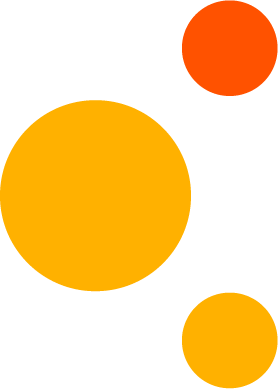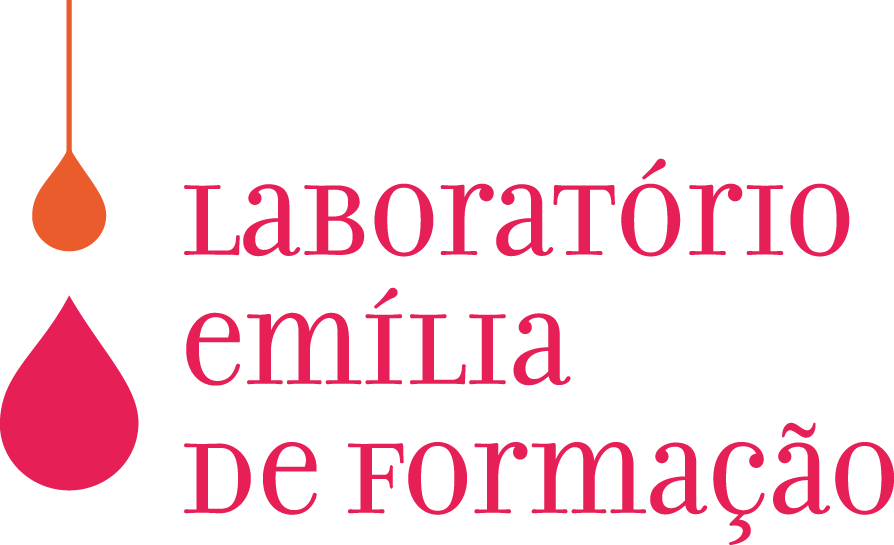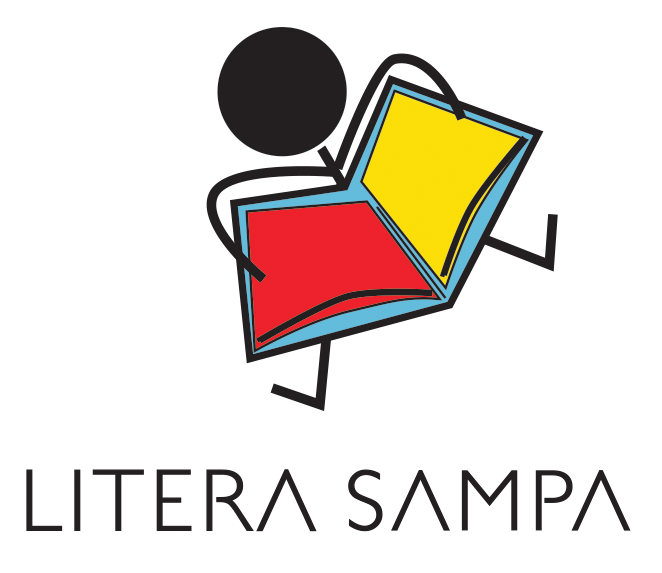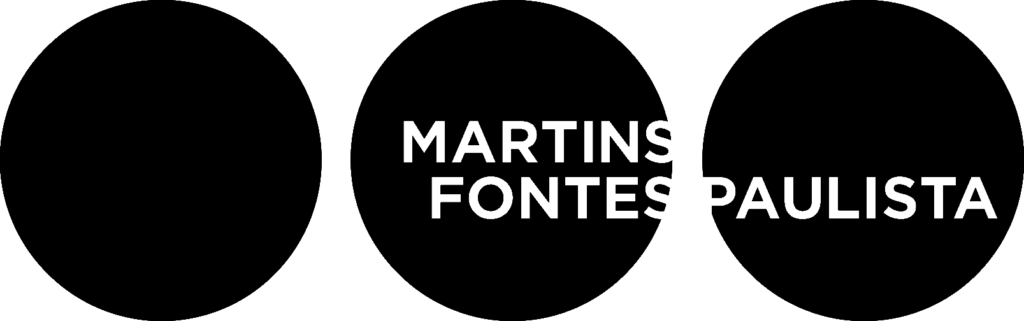Quando me presentearam com o livro de Bértolo, O banquete dos ilustres, em 2012, na Feira de Guadalajara, não tinha ideia do que tinha em mãos. Demorei alguns meses para conferir, mas foi começar a ler e me dar conta da riqueza daquelas páginas, especialmente para aqueles que refletem sobre as questões do livro e da leitura. Mas não de uma forma tradicional, ao contrário, procurando saídas e caminhos para avançar na compreensão crítica deste universo de referências.
É uma honra enorme para a Revista Emília apresentar, pela primeira vez no Brasil, este jornalista, editor, crítico literário espanhol. Assim como inaugurar a Coleção Emília de Ensaios, em parceria com a editora Livros da Matriz, sobre temas em torno da leitura e da literatura, com o título O Banquete dos ilustres, de Constantino Bértolo, um dos convidados do Conversas ao Pé da Página.1Constantino Bértolo participou do Conversas ao Pé da Página (seminário realizado pelo Sesc-SP), na mesa “Muitas leituras, muitos leitores – discutindo paradigmas” ao lado de Carlos Alberto Gianotti.
Aproveite!

Dolores Prades – Qual sua trajetória leitora e quais os momentos mais significativos de seu itinerário? E conte pra gente também um pouco sobre os “grandes encontros” que você teve.
Constantino Bertolo – Meus pais provinham de uma classe média rural, onde os livros não formavam parte da paisagem cotidiana, mas havia, por parte deles, um respeito pelos estudos como forma de melhorar social e pessoalmente. Tanto que em casa havia uma boa enciclopédia e havia o costume de dar livros de presente nos aniversários e no Natal. Recordo concretamente de dois: Através do deserto, de Henri Sienkiewicz, e Robinson Crusoé, de Defoe. Li os dois quando tinha oito anos e são leituras que ficaram muito gravadas, ou seja, ocuparam um lugar importante em minha imaginação de criança e contribuíram para que me tornasse fissurado por leitura. Esses são os que chamaria de meus livros fundacionais.
Mais tarde, continuei lendo livros de autores mais ou menos clássicos como Júlio Verne, Dumas – O Conde de Montecristo e Os três mosqueteiros – ou uma saga como Sandokán. E, na adolescência, fui um leitor quase compulsivo que lia “sem ordem nem critério”, misturando leituras como o Scaramouche, de Sabatini, com novelas de Pio Baroja, Coração, de Edmundo de Amicis com Sinuê, o egípcio, de Mika Waltari, ou O fio da navalha, de Somerset H. Maugham, ou O poder e a glória, de Graham Greene. Lia nas bibliotecas públicas e já comprava livros em sebos. Uns livros me levavam a outros e mais que ler, eu os devorava. Denomino essa fase como “leitura inocente”, de fome leitora e rápida digestão, o que me pôs em contato com um amplo e despretensioso repertório de leituras que, sem dúvida, me serviu para conhecer muita literatura ruim, mas sinto que esse conhecimento foi algo bom para minha posterior trajetória como crítico.
Em todos os casos, ler foi uma forma de me relacionar com o mundo, naqueles tempos de adolescente tímido. Um pouco mais tarde, antes de entrar na universidade, quando o encontro com o existencialismo de Sartre, de Camus, com a poesia de Garcilaso, Rilke ou Rimbaud e com as leituras de Steinbeck, Virginia Wolf, Andre Gide, Scott Fitzgerald, Balzac ou Faulkner, me fez perder “a inocência” e tomar consciência leitora, isto é, consciência de tomar contato com “a cultura” e descobrir, assim, que ler ia para além de um valor de uso, mas me servia, entre outras coisas, para me entreter e me fazer conhecer o mundo, um valor de troca muito adequado para formar uma identidade atrativa no que se referia ao entorno social universitário, em que entrei para estudar Filologia espanhola. Daqueles anos lembro das “noites de paixão”, lendo A educação sentimental de Flaubert, O grande Gatsby, de Fitzgerald, Ulisses, de Joyce ou O jogo da amarelinha, de Cortázar.
DP – Seu itinerário pelo mundo dos livros e da leitura se deu a partir de diversos lugares: de editor, de crítico literário, de autor. Você poderia falar um pouco sobre as características de cada um deles? E de como esses lugares se complementam para formar um pensamento mais amplo sobre livros e leitura?
CB – Quando iniciei meus estudos universitários na Espanha, no fim dos anos 1960, o espaço cultural e político estavam profundamente entrelaçados. A cultura da resistência antifranquista favorecia as atitudes críticas e estimulava o esforço por dotar-se de uma bagagem teórica necessária para analisar a realidade. Nesse contexto, a crítica e a leitura caminhavam em uníssono. Mais que os estudos formais da universidade, esse ambiente favorecia o debate e o intercâmbio de opiniões. Lembro, por exemplo, de grandes discussões provocadas pela chegada dos autores do “boom” latino americano: Vargas Llosa, [Ernesto] Sábato, [Juán] Rulfo, Guimarães Rosa, com relação à novela crítica e social dos autores espanhóis como López Salinas, López Pacheco ou Garcia Hortelano.
Ler Borges, por exemplo, dava lugar a mil discussões ou reuniões quase eternas, que tratavam de esclarecer o sentido estético ou político de sua literatura. Esse espaço de inquietação, curiosidade e aprendizagem despertou em mim o interesse pela política como forma de conhecimento e pela crítica literária como atividade criativa. Comecei a escrever pequenas resenhas em um periódico da cidade, logo depois, passei a colaborar em diferentes meios e revistas, e, no fim dos anos 1980, entrei como colaborador nas páginas de crítica de livros do jornal El País.
Durante esse tempo – e na companhia de autores como Alejandro Gándara, Juan José Millás e José Maria Guelbenzu, co-fundei a Escola de Letras de Madri, que, por acaso foi a primeira escola de escrita criativa da Espanha e onde tive a oportunidade de desenvolver, como professor, tarefas de aproximação da leitura. Foi nesse período que começaram, também, meus primeiros contatos com o mundo editorial, realizando, por exemplo, trabalhos diversos para acompanhar a publicação de clássicos da literatura juvenil. Uma etapa que me permitiu adentrar tanto no mundo da edição como na prática dos textos de ensaio e divulgação científica.
No início dos anos 1990, recebi uma proposta para trabalhar como diretor literário da Editorial Debate, de Madri e, ainda que isso significasse abandonar o mundo da crítica, aceitei pensando, ingenuamente, que trabalhar em uma editora seria algo como exercer a crítica, mas com poder de executivo. Digo ingenuamente, porque rapidamente tive que compreender que a “leitura editorial” imprimia um novo parâmetro – a rentabilidade econômica – que intervinha nos critérios de publicação e que, nem sempre, era compatível ou coincidia com o que chamaríamos puros critérios de qualidade literária, ainda que tivesse a sorte de que aquela editora buscava manter ou incrementar sua identidade literária mais do que a rentabilidade em curto prazo. Nessas circunstâncias, lancei coleciones de narrativas e ensaios que tinham como objetivo tanto a busca por novos autores espanhóis – como Ray Ioriga, Luis Magrinyà, Rafael Chirbes ou Marta Sanz – como colocar em circulação escritores emergentes provenientes de outras línguas, como V.S.Naipul, Alice Munro, Cormac McCarthy ou W.G. Sebald.
Felizmente, sempre trabalhei em projetos editoriais que não tinham como único objetivo a rentabilidade a curto prazo, o que me permitiu “ler editorialmente” sem ter que renegar a qualidade como critério na hora de construir o catálogo. Isso se manteve, em certa medida, durante minha última etapa como editor do selo Caballo de Troya, ainda dentro do grupo Random House, em que a linha editorial do catálogo tinha como base a descoberta e o apoio a novos autores, tanto espanhóis como de países que falam castelhano. Assim, posso dizer que, ao menos em meu caso, o papel das funções de leitor, crítico e editor não resultaram incompatíveis, mas complementares e, nesse sentido, afirmo que tive, editorialmente, uma trajetória privilegiada.
DP – Esse cuidado com a totalidade, a inclusão da leitura em uma complexidade da realidade histórico-social, pode ser visto como resultado de sua filiação com o pensamento de Marx. Na contramão da contemporaneidade, você se mantém, de forma corajosa, defensor dessa tradição. Podemos imaginar as implicações dessa posição. E as dificuldades de se mover na indústria editorial, cada vez mais refém da lógica do mercado. Em seu livro, ficam claros alguns aspectos que não sobrevivem a essa contradição. Você poderia falar um pouco mais sobre essa questão?
CB – Como destaquei anteriormente, minha formação como leitor e crítico vai ao encontro de circunstâncias políticas, marcadas pela resistência cultural antifranquista, realizada, em meu caso, a partir de uma óptica teórica influenciada pelo marxismo e, portanto, por uma concepção da cultura enquanto expressão do momento histórico. Com relação a isso, minhas referências mais claras são autores como Lukács, Bertold Brecht e Juan Carlos Mariátegui.
Em meu processo como crítico literário, nos meios de comunicação como no jornal El País – agora claramente neoliberal, mas que nos anos 1980 ainda circulava nos espaços ideológicos de um progressismo de centro-esquerda – tratei de manter uma estratégia de intervenção crítica, ainda que sem explicitar as categorias do marxismo, pude, contudo, usar e manifestar critérios literários pouco complacentes com as estéticas existencial-elitista, então dominantes e contra as sensibilidades sentimental-mercantilistas que emergiam na literatura espanhola e que estava descobrindo os cantos da sereia do mercado.
Suponho que o final de minha etapa como crítico literário foi determinado, em boa parte, pelo desencontro que isso significava em relação ao momento de autocelebração que a literatura espanhola dos anos 1990 e da primeira década do século XXI atravessou nesses últimos tempos, ao menos até a chegada da crise econômica. E, como editor, também tratei de apoiar, sem procurar partidarismos ou convicções ideológicas rígidas, um tipo de literatura com vocação para intervir na formação dos imaginários coletivos e que desde critérios de qualidade tratassem de questionar a autossatisfação geral que se respirava um tanto irresponsavelmente, tanto na Espanha quanto na Europa.
Como entendo que forma e conteúdo são inseparáveis, editorialmente, isso significava, uma aposta em tipos de discursos narrativos pouco convencionais e que, ainda que não caíssem no experimentalismo pelo experimentalismo, apresentavam estilo ousado e arriscado do ponto de vista comercial. Para que essa linha de trabalho editorial fosse possível, procurei me situar em uma posição fronteiriça entre os valores estritamente mercantis e aqueles mais reconhecidos como literários. Uma posição possível e que, indubitavelmente teve suas vantagens: a liberdade do catálogo, e suas conveniências: a escassa visibilidade comercial.
DP – Considero seu livro uma das melhores contribuições no que se refere à reflexão sobre o livro e a leitura. Você abre uma discussão que ajuda a entender um ponto cego. Uma das questões-chave é a desmistificação de uma visão romântica da leitura. Embora isso não seja novo, há diferentes caminhos por onde passa essa reflexão. A partir disso, você avança para uma discussão sobre a leitura e o leitor que é decisiva. Retomar o significado da leitura coletiva é crucial nesse itinerário e com ela o conceito de responsabilidade. Poderia se aprofundar sobre esse assunto?
CB – O que tentei elucidar ao escrever O banquete dos notáveis eram os mecanismos e as faculdades que a atividade de ler suscita, ou seja, tratei de saber o que lemos quando lemos. Para isso, me pareceu necessário ter o mais claro possível o diferente papel que o ato de ler vem desempenhando ao longo da história. Hoje pode parecer algo distante, mas a leitura foi uma atividade quantitativamente minoritária e qualitativamente elitista até muito pouco tempo atrás. Eu mesmo convivi com pessoas que não sabiam ler, com rechaços ou reservas no momento de julgar os possíveis prejuízos das leituras. A ideia da leitura como um perigo ou como uma perda de tempo não é pré-histórico.
Acredito que se poderia afirmar que, para uma boa parte da minha geração, a leitura representou – entre muitas outras coisas – um meio de sair da clausura , de entrar na cultura dominante e, portanto, uma maneira de assumir, muitas vezes inconsciente e acriticamente, os valores “humanistas” das classes socialmente acomodadas. Ler incorpora a nossa visão de mundo leituras da realidade, entre outras razões porque o que chamamos de realidade não deixa de ser, por sua vez, uma leitura que tem sua própria dinâmica e que depende, em boa parte, das condições socioeconômicas das diferentes sociedades em cada momento histórico concreto. É evidente que as sociedades pós-românticas leem um autor como Shakespeare com olhos radicalmente diferentes de como o puderam ler os ilustrados do século XVIII.
Embora quando a divisão em classes não permite dizer que o constructo que chamamos realidade é o resultado de uma leitura coletiva e democrática, não deixa de ser verdade que em parte isso responde à soma de leituras individuais que os componentes de uma sociedade realizam em determinado momento. E, nesse sentido, é importante falar de responsabilidade, isto é, das leituras que estamos dispostos a compartilhar e daquelas leituras que estamos dispostos a combater. Responsabilidade que implica tanto aqueles que elaboram textos e discursos coletivos quanto os que publicam (os editores), os que divulgam (os professores, comentaristas e críticos) e os que consomem (leitores e leitoras).
DP – Você fala em literatura como um pacto de responsabilidades e argumenta que “a realidade é a que nos lê, enquanto dialeticamente, essa realidade deriva da leitura que fazemos do que existe”. Um dos objetivos de seu livro é exatamente este: ver como as relações sociais, que estão presentes em toda comunicação, também intervém no processo pessoal e coletivo do ato da leitura. Poderia explicar isso um pouco melhor?
CB – Acho que já abordei isso na resposta à pergunta anterior, mas talvez seja conveniente retomar o assunto para esclarecê-lo, desde o ângulo da língua. Ninguém poderá negar que a língua, a linguagem, é um fenômeno que implica, exige e exemplifica a condição social da condição humana. A linguagem responde a uma mesma e única constituição: o nós e sua própria existência evidenciam que traçar as fronteiras entre o eu e os outros é uma ilusão egoísta e idiota, no sentido etimológico do termo. O curioso é que, se do ponto de vista linguístico aceitamos a impossibilidade de ser “idiotas” – ninguém fala sozinho – o que ocorre na literatura é que nem sempre se aceita tal condição, mas se reivindica essa suposta solidão, defendendo que, como leitor “sou o que sou”, frase sobre a qual repousa a soberba do divino.
Claro que cada um é cada um e todos são diferentes, mas ao afirmar tal fato convém não esquecer que cada um é também os outros e que sem o outro ou a outra, não saberíamos nem quem, nem que e nem como somos. É “o outro” o que nos faz homem ou mulher, alto ou baixo, loiro ou moreno. Ler é um ato individual que, através da linguagem, não somente nos coloca em contato com nossa condição de ser individual e social, como também “nos faz” parte deste nós que reside para além da simples animalidade nossa constituição como pessoas.
Esse é o paradoxo que quis apontar no livro: que a leitura silenciosa nos afasta, mas, inevitavelmente, a linguagem nos reúne, nos torna comunidade, precisamente porque é propriedade privada e propriedade coletiva, bem comum.
DP – A leitura como espaço comum parece a chave para estabelecer os diferentes perfis leitores que você estabelece à luz de alguns recursos que vão além do mundo dos livros e da leitura. E isso o leva a conceber o conceito de “urdidura leitora”, traduzido aqui por “trama leitora”. Urdidura essa que caracteriza alguns perfis leitores e que determina, em última instância, a qualidade da leitura. Você poderia explicar isso?
CB – Ao ler um texto – ao menos em teoria – poderíamos dizer que todos lemos o mesmo e, contudo, cada leitura é diferente. Um texto é, de um lado, a expressão de uma individualidade, e de outro, comunicação. Ou seja, vontade de compartilhar. Em sociedades onde predomina o individualismo egoísta, se esquece essa dualidade e se prestigia a diferença, fazendo com que vivamos “a diferença” como um valor superior. Não parece que ninguém que afirma “minha leitura é diferente da sua” esteja disposto a aceitar que é diferente porque é pior. Quando muito, e de maneira bem hipócrita, talvez aceitamos leituras diferentes igualmente válidas. Mas se nos ocorre perguntar: “válidas para quê?”, sem dúvida, começariam as confusões, as disputas, as possíveis queixas, os inevitáveis rompimentos e as lutas com ou sem derramamento de sangue. Não se pode esquecer que, seguramente, as leituras de determinados livros deram origem a mais massacres e calamidades que a violenta disputa por ouro e riquezas.
Para tentar compreender as diferentes leituras para além de psicologias e coeficientes de inteligência e perceber que elas podem dar lugar a um mesmo texto, acredito que é necessário introduzir o conceito de situação, entendendo que, além do “sou o que sou”, aceitemos que também somos um “estar com e entre os outros”. Ou seja, trata-se de uma situação social da mesma maneira que uma situação geográfica determina uma distância e, por conseguinte, uma maneira de ver um objeto concreto, o conjunto de situações que atuam sobre o “ser” intervém em nossa maneira de nos relacionar com os textos. Se essa situação se afirma, por exemplo, com relação à idade, ninguém parece se incomodar, mas se isso se diz sobre o status social ou ideologia política, imediatamente aparecem vozes discrepantes que defendem uma abrangente condição humana que estaria acima das diferentes situações a partir da qual se realiza a atividade de ler.
Daí que, no momento de intervir a partir desde âmbitos, como o da educação sobre a leitura, o que parece mais conveniente a cada leitor ou leitora é descobrir que ler é aprender a ler a si mesmo, aprender a se perguntar e analisar a situação pessoal de cada um dentro da sociedade global e histórica em que se move. Aprender a ler permite conhecer os mecanismos sociais de relação e realização, mas entendo que, de maneira muito particular, o que a leitura facilita é, precisamente, esse aprender a descobrir os mecanismos que temos e sobre o qual construímos nossa identidade. Ler representa a oportunidade de ler-se a si mesmo, de aprender a considerar como se constroem, portanto, as identidades alheias. É nisso que está a relevância da leitura como indispensável elemento de educação.
DP – Afirmar que a natureza pessoal da leitura sem perder de vista a unidade do texto é, talvez, um dos temas mais complexos de entender. Como explicar essa dialética que entrelaça leitor e leitura em uma relação intrínseca, mas sem perder a identidade e a objetividade de cada um? Em outras palavras: como superar, por um lado, o relativismo a que o texto está submetido hoje em dia, em nome do papel do sujeito leitor ou o “objetivismo” em nome da negação do sujeito?
CB – Como expus anteriormente, a relação entre o comum e o pessoal é dialética e supõe a impossibilidade de separar um âmbito do outro. Há, efetivamente, uma fronteira, mas uma fronteira que une e um desses lugares onde a fronteira toma corpo é, precisamente, nos textos literários. Um texto expressa uma subjetividade, ao mesmo tempo em que comunica mediante a linguagem compartilhada uma subjetividade coletiva. A urdidura ou trama do leitor determina, em parte, sua interpretação de cada texto concreto, em função de sua biografia e hábitos culturais, aquilo que Bourdieu chama de capital simbólico, mas isso não significa que os textos não mantenham critérios de objetividade. Tampouco se vê da mesma maneira uma estátua a partir de diferentes pontos de vista, mas nem por isso se pode deduzir que existem tantas estátuas como pontos de vista. O que se conclui é a necessidade de conhecer esse texto ou essa estátua, de modo a se utilizar todas as perspectivas possíveis. Quanto maior capacidade de movimento dos sujeitos, maior compreensão, melhor entendimento.
DP – A sua desmistificação da leitura tem em Fedro e em alguns perfis leitores (Madame Bovary, Martin Eden…) seu ponto mais alto. E mostra os males que a leitura pode causar, as doenas da leitura como se refere no livro. Quais as implicações disso quando se trata de refletir sobre leitura e leitores?
CB – A atividade de ler é um ato mental que se realiza de maneira solitária e habitualmente em silêncio. Esse ato, que em aparência só afetaria as circunstâncias exteriores em que têm lugar a leitura, entendo que pode provocar fortes distorções, porque pode nos induzir a pensar que ler é um mero encontro de intimidades, entendendo por intimidade essa ideia tão presente no humanismo elitista de que há uma parte do eu que é inefável e incomunicável e que essa parte é precisamente o mais autêntico de nosso ser.
Uma ideia que além disso se popularizou por culpa da má interpretação da teoria freudiana do inconsciente. Ler em silêncio propicia a ruptura da dialética entre o eu e os outros que nos constitui e essa ruptura facilita, em psicologias pouco autocríticas, uma visão de mundo em que tudo gira em torno desse misterioso eu íntimo. Quando essa dialética se rompe, se produz um desequilíbrio e ele é o que está patente em personagens como Dom Quixote ou Emma Bovary.
DP – Não existe somente “uma leitura”, que ela não é unívoca, e você faz uma crítica ao “diálogo de intimidades”, tal como se caracterizou a leitura a partir da modernidade. Além disso, há uma referencia à leitura “como um adultério sem perigos”, como a “caixa preta”. O que quer dizer com isso?
CB – Ler é entrar em outro tempo e em outro espaço e supõe-se abandonar de maneira imaginária um espaço e um tempo reais para “viajar” dentro dessa nave semântica que é uma narração. Não creio que o “pacto da ficção” suponha nos deixarmos levar pela incredulidade, mas em simular que o fazemos. Nesse sentido, falo da leitura de narrativas como uma espécie de “simulador de voo”, em que se entra através da leitura e com a qual sofremos com as experiências que o argumento narrativo contém: o amor, o abandono, a perda, a felicidade. Lendo Ana Karênina podemos “experimentar” o desejo e os arrependimentos do casal protagonista, lendo Dom Quixote, nos colocamos na pele desse fidalgo fantasioso, lendo Crime e Castigo podemos compreender os motivos ou causas que dão espaço para um crime. Este é o poder da literatura: a magia. Mas essas experiências não deixam de ser experiências simuladas, ficcionais e por isso representa um perigo acreditar que, a partir delas, já conhecemos a realidade.
Ao ler, não deixamos de contrastar os dados que nos proporcionam a ficção com os dados que, por exemplo, nos oferece nossa experiência biográfica. Mas se esta experiência é escassa ou deficitária, corremos o risco de pensar que a ficção é mais real que a vida. Pode acontecer que a vida que vemos nos livros nos pareça mais autêntica que a vida real. A tentação de “viver outras vidas” através da leitura, de “cometer adultério” ao enganar-se sobre a realidade e o tempo próprio, está presente no processo de leitura que, indubitavelmente, pode criar tanta satisfação que, como uma droga autodestrutiva, nos toma e nos torna adictos.
Se pudéssemos observar o que se passa na cabeça de Madame Bovary quando lia as novelas românticas como quem analisa a caixa preta de um avião, poderíamos entender as causas desse “acidente mental” que a levou a acreditar que a paixão amorosa era um valor supremo com o que se podia viver, esquecendo, assim, de que a “vida interior” não serve para pagar as contas que a “vida anterior” gera.
DP – Como você define o papel da crítica literária e qual a possibilidade de ser crítico atualmente? Em determinado momento de seu livro há uma referência à impossibilidade de uma verdadeira crítica na atualidade. O que quer dizer com isso?
CB – Bom, minha ideia da crítica parte da noção de que a crítica é uma instância através da qual uma sociedade vigia que as narrativas públicas proporcionadas pela literatura não sejam danificadas, o que podemos chamar de “saúde semântica da sociedade”, que funciona como a inspeção sanitária de um país, que procura certificar-se de que os alimentos que chegam ao mercado não contenham altos níveis de gordura, que contribuem para a obesidade. Continuando com essa metáfora alimentícia, acredito que concordamos em destacar que, para que essa inspeção exista, seria necessário que a sociedade, em seu conjunto, assumisse a conveniência de lutar contra as péssimas práticas alimentares. Se em uma sociedade tal exigência não tem lugar, a informação sobre os alimentos provirá quase exclusivamente do marketing e da publicidade que direta ou indiretamente geram os próprios produtores de alimentos.
Pois bem, no que tange a alimentação literária, tenho a impressão de que, ao menos na Espanha – e até a muito pouco tempo – ninguém pensava que a obesidade – leia-se autossatisfação – era perigosa, nem à sociedade parecia aceitável que alguém assumisse a tarefa de atrever-se a dizer o que é bom ou ruim para a saúde semântica em geral. E ninguém se atrevia porque, entre outras razões, vivíamos em pleno relativismo estético, ético e moral e no interior de uma pós-modernidade, que, na esteira de um pretenso pós-dogmatismo, se caracterizava pelo “tudo vale” e “ninguém tem o direito de falar em nome dos outros”. Acredito, contudo, que agora, como resultado da crise econômica, na sociedade espanhola, a autossatisfação desmoronou, emergindo um movimento significativo de oposição “ao regime alimentício” até agora dominante, e, talvez, estejam começando a se dar as condições adequadas para que sobressaia uma crítica que não consista simplesmente em anunciar que a multinacional X acaba de colocar no mercado uma fabulosa e saborosa junk food feita à base de breguice existencial e palavras pré- cozidas. A crise deslegitimou os relativismos e, ainda que o prejuízo contra a crítica de intervenção na configuração dos discursos públicos da arte ou a literatura continuem muito altas, talvez a crítica forte, independente e arriscada volte a ter sentido e lugar.
DP – Qual é o contexto atual que faz com que todos os responsáveis pela cadeia do livro se esqueçam de suas responsabilidades? Obviamente, não são os únicos, mas é deles que estamos tratando aqui…
CB – Até a muito pouco tempo, vivemos sob a consigna ética e econômica do “salve-se quem puder”, do paradigma neoliberal em que “eu sou o que sou” simplesmente significava “eu sou o que posso comprar, eu sou o que posso vender”. Tudo isso embaixo do guarda-chuva implícito de que o bem comum era o simples resultado da soma de interesses pessoais e tudo isso dentro de uma sociedade que propagava a ideia de que a igualdade de oportunidades era algo que já tinha sido conquistado e que, portanto, todos éramos individual e igualmente responsáveis por nossos destinos. Nessa atmosfera em que vivemos, a única responsabilidade que nos demandava era a de saber comprar bem e saber, sobretudo, vendermos bem. Os dois únicos e verdadeiros mandamentos do capitalismo. Se você sabia fazer isso era um vencedor, se não, um perdedor. Essa paisagem moral e ética que, através da expansão dos meios de cultura e incultura, teve tanto sucesso porque soube exportar e impor à metrópole desse imperialismo capitalista que agora chamam de globalização, fez com que a ideia de bem comum, fundamentada em uma elaboração de condições de igualdade econômica e jurídica, seja impraticável. Felizmente, repito, o capitalismo volta a ser questionado e, portanto, o conceito de bem comum está, de novo, nas entrelinhas, o que me faz pensar que a exigência de responsabilidades volte a ser algo natural. Um pensamento talvez otimista, mas necessário, porque entendo que o pessimismo é uma forma massiva de desarme.
DP – Literatura e mercado é uma equação possível? Em que termos?
CB – Evidentemente é uma equação possível como a história vem demonstrando. Acredito que o que esteja em dúvida é o contrário: se é possível uma literatura fora do mercado. Para o pensamento hegemônico de hoje, isso é impossível, como bem se encarregam de incutir em nós, vez por outra, que o mercado é liberdade, que não há liberdade fora dele e que as literaturas que quiseram existir fora dessa “liberdade” são mera e desprezivelmente propaganda panfletária.
Dito isso, o que deveria perguntar antes de tudo é o que devemos entender por mercado e o que devemos entender por literatura. Se por mercado entendemos o que os liberais vêm defendendo, ou seja, o mercado como lugar de encontro entre iguais, entre compradores e vendedores que chegam ao mercado em iguais condições econômicas e jurídicas, e se por Literatura entendemos o que esse mercado, através do jogo da oferta e da procura, vem fomentando o que é literatura, pois somente essa literatura é possível e real. Mas se entendemos que esse mercado capitalista, dominado pela propriedade privada dos meios de produção – e muito especialmente dos meios dos meios de produção de necessidades que entre outras coisas impõem o que ler e o que sentir – é um mercado fraudulento, classicista e totalitário, deveríamos começar a pensar que a literatura, enquanto um sistema de criação e circulação dos imaginários coletivos, deveria integrar, de maneira prioritária precisamente aqueles discursos que colocam em evidência os enganos que esse mercado propicia. Diríamos, então, que o mercado atual está monopolizando uma ideia do literário que cria obstáculos à criação e impede a circulação de outras possíveis literaturas.
DP – O que você está lendo agora e quais livros te surpreenderam ultimamente?
CB – Tive uma semana de férias e durante esse período li, com a sorte pouco habitual, dois livros, dos quais gostei e que me interessaram muito. Gosto e interesse são dois conceitos que nem sempre caminham juntos – nem são obrigados a isso – mas quando essa conjunção acontece, temos que agradecer. O primeiro foi uma novela Nuevas amistades de un amor español, de Juan García Hortelano, da geração de 1950. É uma novela publicada em 1959, o ano em que a Espanha iniciou sua abertura econômica voltada para a integração com a Europa. Na realidade, mais que uma leitura, trata-se de uma releitura, pois li essa novela pela primeira vez em 1970. E, se agora volto a lê-la, é porque me comprometi a escrever um comentário por ocasião de uma futura publicação em homenagem ao autor falecido há muitos anos.
Daquela primeira leitura não lembro de minhas impressões, tampouco se gostei. Ao reler, inclusive me surpreendi que a novela não trata exatamente daquilo que eu pensava. Na minha memória, a novela estava relacionada à desclassificação social da geração que havia passado a guerra civil durante sua infância. Algo disso existe, mas o que essa leitura me fez ver é o acerto com que a novela retrata esse momento na “biografia coletiva” de uma camada significativa da burguesia tradicional espanhola. Me interessou muito porque acredito que a narrativa, em suas relações com a história, efetua uma leitura que introduz uma totalidade diferente, mas absolutamente necessária, para compreender o “que estava acontecendo” (pergunta e resposta da história) quando “aquilo aconteceu” (pergunta e resposta da História).
A novela mostra com muita inteligência narrativa como aquela geração da burguesia que quinze anos mais tarde protagonizaria a chamada Transição Democrática, ainda que reprimida politicamente – que também – se encontrava “represada”, tapada por um muro de valores e costumes mais característicos do século XIX que do XX. É como se tivesse romanceado a “repressão de um impulso geracional” mostrando as consequências morais e obstruir os horizontes vitais. Algo também latente em uma novela muito atual como é La Trabajadora, de Elvira Navarro, uma jovem escritora espanhola.
Outra leitura desses dias também foi apaixonante ainda que em outro aspecto. Trata-se de um livro de ensaio de Giorgio Agamben intitulado Altísima pobreza. Reglas monásticas y forma de vida, que é uma reflexão que tem como base as propostas religiosas de São Francisco de Assis para comentar a impossibilidade de separar forma e conteúdo ao fazermos ver como toda regra ou norma realmente assumida faz referência a uma “forma de vida”, esse espaço em que “a forma” é – e só pode ser – feito de vida.
Por outro lado, com minha viagem ao Brasil, tenho a intenção de me internar nos próximos dois dias em uma leitura que me recomendou fortemente e que desde as leituras de Grande Sertão: Veredas ou A Guerra do fim do mundo, de Vargas Llosa, tinha como pendência: Os Sertões, de Euclides da Cunha.
Tradução Thais Albieri
Nota
- 1Constantino Bértolo participou do Conversas ao Pé da Página (seminário realizado pelo Sesc-SP), na mesa “Muitas leituras, muitos leitores – discutindo paradigmas” ao lado de Carlos Alberto Gianotti.