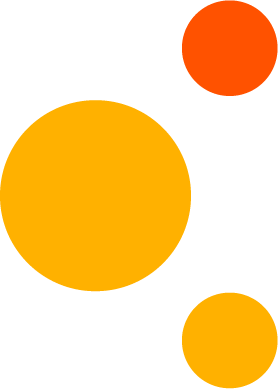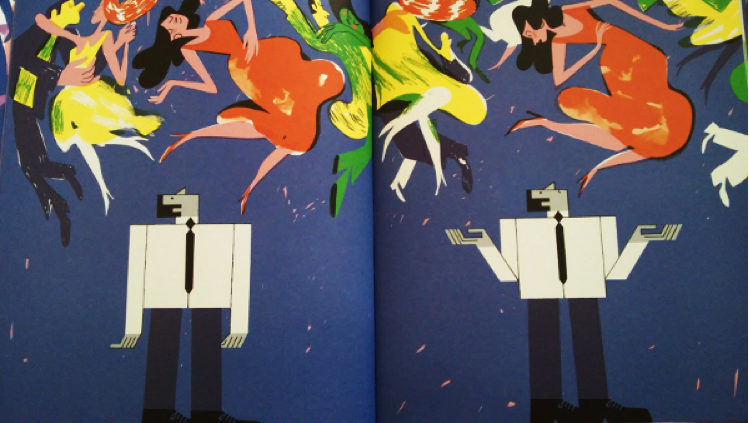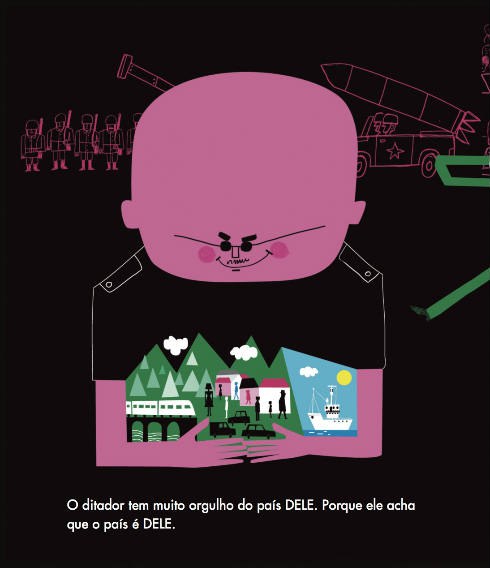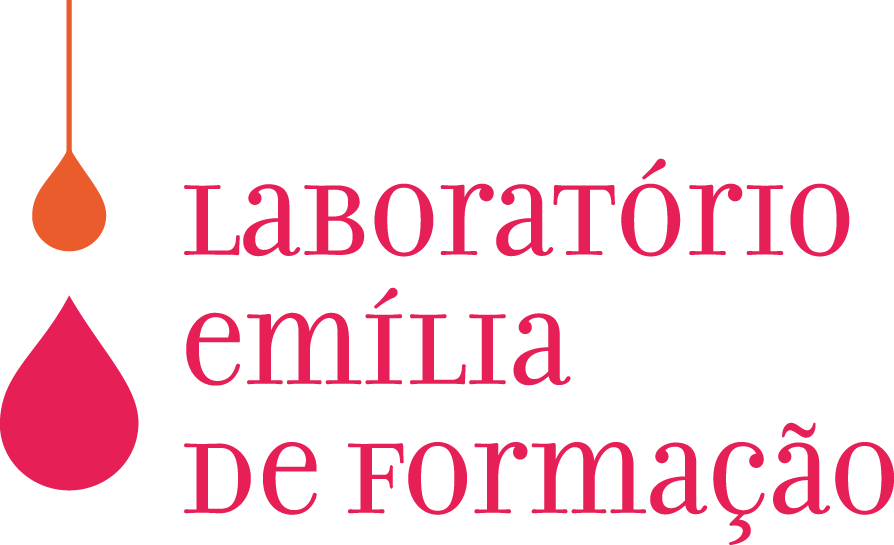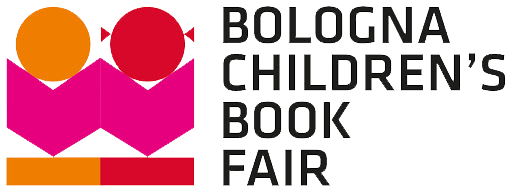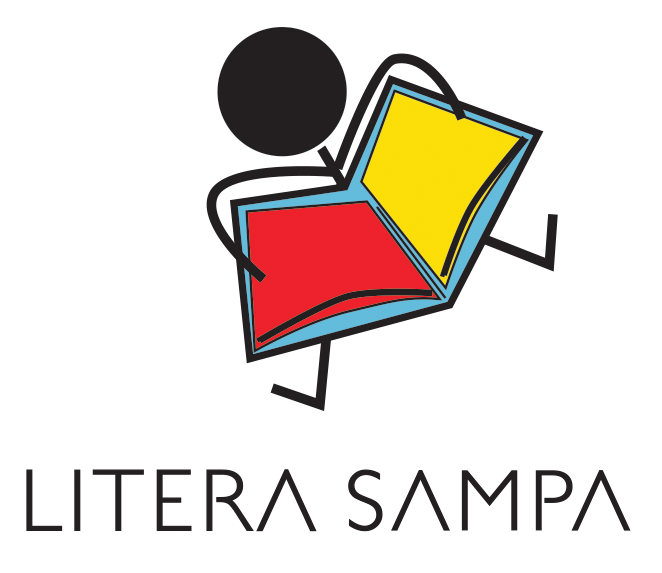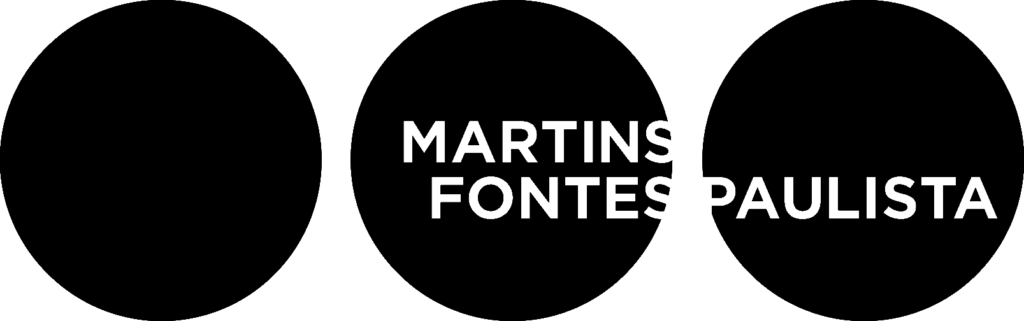Eu aceitei uma realidade maior, mais elástica, mais expandida, onde entrava tudo.
Julio Cortázar
Intitulei este texto “A realidade do fantástico” porque me interessa o paradoxo de pensar o fantástico como real. O fantástico é o contrário do real? Um supõe a exclusão do outro? Ali onde ingressa o fantástico, o real está descartado, e vice-versa?
Há algo que talvez esteja claro, pelo menos em termos narrativos e literários, não existiria o fantástico sem a existência do “real” e quando digo “real” me refiro as formas convencionais com as quais nossa sociedade pensa e entende o que chamamos de “realidade”. O conto fantástico requer para ser tal (ao contrário do maravilhoso) a confusão de elementos que poderíamos chamar de “realistas”, ou seja, que imitam “o real” e elementos ou feitos sobrenaturais, assombrosos ou insólitos para esse mundo análogo da realidade cotidiana. Esta coexistência ambígua de mundos díspares faz do fantástico uma espécie de falso paradoxo: a contradição é parte de sua natureza. O mundo criado por uma história fantástica sustenta a erupção do inadmissível, do impossível, dentro da ordem de todos os dias; e é nesta erupção que se assentam os efeitos literários e até mesmo filosóficos da história fantástica.1Este texto foi lido na 24ª Feira do Livro Infantil e Juvenil de Buenos Aires, organizada pela Fundação do Livro (julho de 2014).
Disse Rosemary Jackson a respeito:
O fantástico recombina e inverte o real, mas não escapa a sua esfera: ele existe em uma relação simbiótica ou parasitária com o real. (JACKSON, 1986)
Para explicar isso, podemos usar um termo cunhado por Freud: Unheimlich. Este termo não tem equivalente em espanhol, mas significa aproximadamente ”inquietante”, “o que sai do cotidiano aceitável pela razão”.
… Freud notou que nos contos de fadas se deixa automaticamente de lado a realidade para entrar em um sistema animista de crenças que a civilização já superou e que relega a um plano meramente recreativo ou pueril. Mas a situação é outra se o escritor pretende mover-se no mundo da realidade comum, porque as manifestações estranhas ou insólitas, aceitas de pronto no conto de fadas, provocam inevitavelmente o sentimento de Unheimlich, que os ingleses chamam de uncanny e que não tem equivalente preciso em espanhol ou francês. Inclusive, segundo Freud, o escritor pode intensificar o efeito dessas manifestações, na medida em que a situa numa realidade cotidiana, uma vez que se aproveita de crenças ou superstições que dávamos como superadas e que retornam, como verdadeiros fantasmas, em plena luz do dia.(CORTÁZAR, 1994)
A literatura fantástica está localizada historicamente a partir de 1800 ou um pouco antes, ou seja, quando a humanidade (no Ocidente) decidiu adotar uma representação da realidade baseada no pensamento lógico-racional. Poderíamos dizer que, sem esta forma de pensamento secularizado, não existiria o que hoje chamamos “literatura fantástica”.
No entanto, as ficções fantásticas, como assinala Bioy Casares, “são anteriores as letras.” Pertencem a esse oceano de relatos orais que tem nutrido e ainda nutrem copiosamente a literatura para crianças e jovens. Mas é necessário distinguir nesta narrativa popular, nos contos, mitos e lendas, que o surgimento de um feito insólito supõe uma concepção da realidade onde o sobrenatural, o impossível, se torna possível. A existência de um mundo sobrenatural contiguo à vida cotidiana, sem uma fronteira precisa que os dividam, foi moeda corrente para aqueles que criaram e difundiram tais relatos: daí que, nessas histórias, não resulta perturbadora nem problemática à vinculação do que poderíamos chamar de real com aquelas outras regiões habitadas por seres e acontecimentos sobrenaturais.
Um bom número das chamadas “histórias de terror” para crianças surgem de fontes orais e tradicionais de todo o mundo. Aqui o fantasma, o monstro, assusta, mas não resulta demasiado inquietante, não perturba as formas que a sociedade usa para compreender o real, já que em última análise, tudo se resolve com uma explicação de ordem sobrenatural, em outro plano, e “esta realidade”, a de todos os dias, se restabelece sem muitas perturbações.
A chamada “literatura fantástica” requer para seu surgimento o abandono por parte da humanidade de uma visão do mundo crente em presságios e fantasmas. Aquela visão que sustentou anteriormente o relato maravilhoso.
Disse Jaime Rest:
… o modelo mais difundido desse âmbito literário pode ser aquele que nos ofereça uma construção narrativa que, deliberadamente, se contorna a possibilidade de estabelecer de forma inequívoca se estamos lidando com um feito sobrenatural objetivo ou ante uma mera alucinação subjetiva do narrador fictício ou do personagem principal. (REST, 1977)
Jaime Rest nomeia como exemplo deste último a E. T. A. Hoffmann (1776-1822), que é considerado um dos fundadores e principal difusor da moderna literatura fantástica. O aparecimento do fantástico como narrativa, diz Rest, coincide com um fenômeno cultural: a reação romântica ao secularismo do pensamento moderno. Se trata, então, de uma resistência, que Hoffmann é um exemplo claro, uma concepção positivista do real. Podemos suspeitar, diz Jaime Rest, que o produto do confronto entre o secularismo moderno e o sobrenaturalismo romântico foi o nascimento da literatura fantástica.2Rest, Jaime. Op. cit., p. 10.
A contradição de tudo isso é que a narrativa fantástica não pode existir sem o “cotidiano real” tampouco sem o “sobrenatural” ou ” o outro”, aquele que excede os limites do real; mas não pertence a nenhum desses dois mundos, nem ao “real” nem ao sobrenatural. Seu lugar é a fronteira, o que está entre uma e outra coisa, que não é nem um nem outro. O fantástico literário não parece ter identidade fixa, mas sim móvel, fluída, indeterminada.
Em outras palavras: em suas muitas variantes, a história fantástica refere-se ao advento de um feito insólito, desconcertante, talvez sobrenatural, algo que não encontra explicação nos paradigmas que costumamos dar-nos para organizar o real; mas esse advento ocorre neste mundo em que vivemos, ou digamos mais precisamente: em um mundo construído pela ficção segundo as mesmas regras que regem a referência do mundo real para o leitor. O prodígio não tem fundamento em mundos sobrenaturais, em realidades paralelas; se assim for, nós estaremos novamente dentro do campo do maravilhoso. A presença do “outro” neste mundo, e de todos os dias, produzem uma pausa, um deslocamento. As formas que nos damos para entender o real entram em crise, se questionam, se transgredem seus limites e os paradigmas, que nos permitem organizar a realidade cotidiana, não são suficientes. No fantástico literário, o enigma carece de explicação. A incerteza, vertigem do vazio e a ausência são parte do sistema.
A literatura fantástica está intimamente ligada à experiência de limites e sua dissolução. Tanto em seus temas, como aponta Todorov, como em sua sintaxe, como assinala Rosalba Campra (1985). O fantástico como o monstro, parece disposto a transgredir todos os limites, todas aquelas regras necessárias para por um pouco de ordem e de paz no mundo.
Como as crianças pequenas, os psicóticos e aqueles sob a influência de drogas, diz Todorov (2006), no fantástico a fronteira entre sujeito e objeto se dissolve. Exemplos disso são temas recorrentes como metamorfose, o duplo, a transformação do tempo e do espaço.
Disse Rosalba Campra:
A infração que se destaca no relato fantástico é um escândalo da razão: essa comprova a existência de duas ordens irreconciliáveis, e posteriormente se vê obrigada a comprovar sua coexistência. O sonho adquire a mesma espessura da vigília e atua sobre ela … o eu se desdobra; desaparece a uni-direcionalidade do tempo; as fronteiras entre animado / inanimado, concreto / abstrato, eu / outro etc., entram em colapso.3Campra, Rosalba. Op. cit.
Nos textos fantásticos se dissolvem as unidades clássicas de tempo, espaço e personagens que sustentam o relato realista e que sustentam também noções dominantes de “realidade”. O fantástico não é metafórico, coincidem Jackson e Todorov, o que está ali não está em lugar de outra coisa; a alegoria, diz Todorov, mata o fantástico. A tendência do fantástico não é de substituição, mas de deslocamento, deslizando de uma forma para outra, um fluxo que não fixa em forma definitiva, a maneira da metonímia. Não há formas estáveis, não há identidades definidas. Jackson define a fantasy como uma tendência para dissolução, entropia.
O eu pode ser outro; o humano transmutar-se em animal; o sonho se confunde com a vigília. Tudo isso acontece com Joaquin, o menino protagonista de Ojos amarillos, a novela de Ricardo Mariño (2011). Um pesadelo estranhamente compartilhado pelos habitantes de uma aldeia é o acontecimento que perturba os personagens. Pouco a pouco, o sonho vai adquirindo espessura de realidade no relato, aparece aquele gato do pesadelo com seus estranhos olhos amarelos, que ingressa sorrateiramente na vida do menino; aquele que parecia produto da ignorância e estupidez de alguns aldeões se transmuta em realidade, dando conta disso o testemunho do Padre Joaquin e o narrador, testemunha além da transmutação do menino.
Contos duplos abundam na narrativa fantástica, alguns muito famosos: “William Wilson” de Poe; “Distante” de Cortázar, “Dr. Jekyll e Mr. Hyde” de Stevenson, e em uma variante em que o humano e o animal se intercambiam, “Axolotl” também de Cortázar. O “eu“ se desintegra, se estranha e, como sucede em muitos relatos, sua multiplicidade termina na morte do personagem.
Conversamos sobre o advento de um feito insólito, desconcertante, muitas vezes sobrenatural (nem sempre) em um mundo cotidiano, real. Neste mundo de todos os dias se abre o abismo de um enigma que não encontra explicação a partir de paradigmas habituais que recorremos para entender o real.
Em exemplo interessante disso é o conto “Equipaje” de Pablo de Santis, incluído em seu livro Rey Secreto. Como geralmente acontece no fantástico, o narrador é uma terceira pessoa focada no personagem. Ou seja, sua visão do que conta é sujeita à perspectiva do protagonista, mas não é o personagem que fala, mas uma voz que em terceira pessoa nos oferece alguma garantia de “objetividade”. Portanto, a visão do narrado é parcial, mas se reveste de imparcialidade, permitindo ao leitor acreditar no que se diz, mas, por sua vez, restringindo-lhe as informações necessárias para a resolução do enigma colocado. É esse tipo de narrador que Cortázar costuma usar em seus contos, como em “La noche boca arriba”, um bom exemplo também do tema duplo, da transgressão do limite à inversão entre sonho e vigília, e da vulnerabilidade das categorias temporais e espaciais, como as compreendemos normalmente.
Mas voltando ao “Equipaje”, de Santis: o conto transcorre em um espaço fechado, um hotel que costumam frequentar os viajantes comerciais. Um lugar de trânsito. Tudo faz pensar que o protagonista é um hospede ou um residente fixo do hotel, e o enigma se concentra na estranha aparição de uma mala, sozinha, no meio de um corredor, no elevador. O personagem se pergunta sobre a identidade do dono da mala, e pelas razões que explicariam sua inédita e repentina aparição. Como muitas vezes acontece no fantástico, o personagem se dá – e nos dá – para sua – e nossa – tranquilidade algumas explicações racionais: Talvez alguém a havia esquecido há muito tempo atrás, e os meninos do hotel a tenham pegado do porão para fazer uma piada.
A aparição da mala sem dono no corredor, do elevador, torna-se uma fonte de ansiedade e medo para o personagem. Decide então abri-la. Ao rever o conteúdo, pouco a pouco, reconhece seus pertences. Entre eles, uma garrafa azul de veneno e uma carta em que se despede de uma mulher. Sem dizer explicitamente, mas com suficientes indícios, a narrativa move o enigma da mala e sua aparição inédita para a identidade do personagem. A explicação é de caráter sobrenatural, esse personagem não é deste mundo, mas são os silêncios da narração e a ressignificação dos elementos do conto a partir do desenlace, os que fornecem essa cota de surpresa própria do fantástico. Para o leitor havia certa segurança sobre a identidade do protagonista, o problema estava em outro lugar: a mala; mas o relato flui para outras direções. A surpresa do desenlace está nessa mudança súbita de regra para o leitor, onde a segurança se quebra dando lugar a outra coisa.
O fantástico – diz Jackson – interroga a definição do eu como um todo coerente, indivisível e contínuo que dominou o pensamento ocidental durante séculos. A fantasy oferece imagens de identidade muito diferentes dos corpos sólidos que aparecem na ficção “realista”.4Jackson, Rosmary. Op. cit., pp. 82-83.
Cortázar fala de um estranhamento frente ao real tal qual o conhecemos:
… esse estranhamento está lá, em cada passo (…) a qualquer momento, e consiste principalmente no fato de que os padrões da lógica, a causalidade de tempo, do espaço, tudo o que nossa inteligência aceita desde Aristóteles como imóvel, seguro e tranquilizador se vê subitamente abalado, como movido por uma espécie de vento interior que os move e os faz mudar.(CORTÁZAR, 1982)
As noções de tempo e espaço se mostram “como algo muito mais rico, variado e complexo do que a noção habitual e utilitária do tempo que todos estamos obrigados a ter”, disse também Cortázar (2013).
Assim, o tempo pode transcorrer em sentido inverso, como em “Viaje a la semilla” de Alejo Carpentier, ou toda uma vida reduzir-se a uma vertiginosa viagem de trem como no conto “Tren” de Santiago Dabove; ou transcorrer o tempo suficiente para concluir a grande obra literária de um autor, durante o instante entre a ordem dada pelos carrascos e execução do protagonista, tal como sucede em “El milagro secreto”, de Borges.
Havíamos falado sobre a erupção do inadmissível no mundo cotidiano como uma característica do relato fantástico. No entanto, nesse questionamento do “real” que parece caracterizá-lo, o fantástico tem dado exemplos em que não resulta tão fácil distinguir os dois termos: real e fantástico.
[…] e não se trata de uma erupção onde os elementos da realidade são mantidos e há apenas um fenômeno inexplicável que se produz, mas uma transformação total: o real passa a ser fantástico e, assim, o fantástico passa a ser real simultaneamente sem que possamos conhecer exatamente qual corresponde a um dos elementos e qual, ao outro5Cortázar, Julio. Op. cit. 2013, p. 82.
Cortázar fala de uma modalidade extrema do fantástico “lá onde os limites entre o real e o fantástico cessam de valer e as duas coisas se entrelaçam”6Cortázar, Julio. Ob. cit. 2013, p. 84.. O exemplo que ele mesmo dá é seu conto “Continuidad de los parques”.
Seguindo o dito até aqui, podemos assinalar que o fantástico se assenta na incerteza e no questionamento sobre a natureza do “real”, assim como das categorias que a sociedade foi construindo para sua compreensão.
A fissura do real, assinala Rosalba Campra, não se dá apenas a nível semântico. Embora, como já vimos, há limites para o nível dos temas que são transgredidos; no entanto, a transgressão em nível semântico não deixa de dar conta de certa plenitude de significado.
No conto fantástico de hoje, esta mínima segurança se vê suplantada pela ausência do inimigo. Não há luta, mas a impossibilidade de explicação de algo que não se sabe se ocorreu. Em um mundo inteiramente “natural” se abre o princípio da não-significação. O herói fantástico já não pode mais lutar; se enfrenta com o nada.7Campra, Rosalba. Op. cit.
Um exemplo disso é o conto “El perro cineza”, de Javier Villafañe. O relato focalizado no personagem, nos mantém dentro de certa segurança: aquele “cachorro magro, de cor cinza, com olhos claros transparentes”, que o protagonista diz ver é o resultado de suas alucinações. O diálogo com o médico, os acontecimentos relatados, certificam que aquele cachorro não existe fora da mente enferma do personagem. No entanto, nesse mesmo diálogo, o médico assinala: “O que é que verdadeiramente existe? Aqueles que podemos tocar, pesar? Acaso não pode materializar-se algo que imaginamos, um sonho, por exemplo? Você o vê e, portanto, tem – essa visão – uma existência real”.
Mas o psiquiatra, ante a angústia do paciente, finalmente decide interná-lo. Até aqui nenhuma surpresa para o leitor, tudo tem sua explicação lógica. No entanto, o conto decide dar uma reviravolta completa ao final. A voz narrativa cobra maior objetividade e descreve a morte do homem. Uns pescadores encontraram o corpo na praia, mas “não estava sozinho. O acompanhava um cachorro. Tinha a cabeça apoiada sobre o peito do afogado e, por momentos, lhe beijava as mãos e o rosto. Era um cachorro magro, pálido, com olhos claros, transparentes”.
Neste final, as explicações tranquilizadoras caem por terra. O leitor se vê impossibilitado de negar categoricamente a existência do cão como vinha fazendo até agora, mas tampouco pode aceitá-lo, porque há demasiados indícios que contradizem a sua “realidade”.
A diferença então do gótico em que a aparição do fantasma ou do monstro contava para definir um texto como fantástico, na narrativa fantástica atual a garantia da ordem e a existência se veem amenizadas pela falta de nexo, os silêncios e os vazios. É o enigma não resolvido, o silêncio na trama do discurso, de acordo com Campra, o que sugere a presença de vazios no tecido da realidade.
Nas palavras de Rosemary Jackson:
“o fantástico moderno (…) se concentra no desconhecido dentro do presente, e descobre o vazio dentro de uma realidade aparentemente completa. O que se coloca em primeiro plano é a própria ausência”8Jackson, Rosmary. Op. cit., p. 166..
Isto claramente diferencia o fantástico moderno da chamada “fantasia épica” ou de high fantasy. Obras como Histórias de Terramar de Ursula K. Le Guin; El Senhor de los Anillos, de Tolkien; La saga de los Confines, de Liliana Bodoc…. Na high fantasy se constroem realidades alternativas, com esmerado cuidado no cumprimento das regras internas ao mundo proposto pelo texto. Esses mundos, minuciosamente descritos, têm as suas leis, e estas são respeitadas à risca. Poderíamos dizer, então, que se trata de personagens, espaços, temporalidades carregadas de sentido, acontecimentos devidamente justificados segundo regras internas do texto, mundos estritamente coerentes nos seus próprios termos.
Disse Ursula K. Le Guin a respeito da verossimilitude dos relatos de fantasia épica:
A pedra de toque da verossimilitude de uma ficção imaginária é, provavelmente, a coerência (…) A fantasia, que cria um mundo, deve ser estritamente coerente em seus próprios termos ou de outra forma, perde toda verossimilitude. As regras que governam o modo como as coisas funcionam no mundo imaginário não pode mudar no curso da história. Esta é provavelmente uma das razões pelas quais a fantasia é tão aceitável para as crianças, e mesmo quando assusta, pode proporcionar consolo ao leitor: porque tem regras. Afirma um universo que de certo modo faz sentido.9Le Guin, Úrsula K. “Verosimilitud en la fantasía”. Carta abierta a Alexei Mutovkin.
Como assinala Campra:
A diferença de mundos secundários do maravilhoso, dentro dos quais poderíamos circunscrever a fantasia épica, que constrói realidades alternativas, os mundos sombrios do fantástico não constroem nada. São vazios, vacilantes, dissolventes. Este vazio toma um mundo visivelmente pleno, redondo e tridimensional e consegue invalidá-lo com os seus traços de ausência. Espaços que insistem na falta, no não visto, o invisível.(CAMPRA, 1999)
Como o fantasma que não está nem vivo nem morto, o fantástico é uma presença espectral suspensa entre o ser e o nada. Toma o real e o quebra, diz Rosmary Jackson.10Jackson, Rosmary. Op. cit., p. 18.
Voltando, então, ao título deste artigo, podemos novamente nos perguntar sobre a realidade do fantástico, e também sobre os limites do real. E para terminar, cito pela última vez Cortázar, que disse:
Cada vez que vejo as bibliotecas onde se nutrem as crianças bem-comportadas, penso que tive sorte; ninguém selecionou para mim os livros que devia ler, ninguém se preocupou que o sobrenatural e o fantástico me impulsionassem com a mesma validade que os princípios da física ou as batalhas pela independência nacional.11Cortázar, Julio. Op. cit., 1994.
Tradução Lurdinha Martins
Imagem: Ilustração de Arthur Rackham, The Witches’ Sabbath, para Washington Irving’s The Legend Of The Sleepy Hollow, 1928.
Referências Bibliográficas
BORGES, Jorge Luis. El milagro secreto. En: Ficciones. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1998.
CAMPRA, Rosalba. Fantástico y sintaxis narrativa. En: Revista Río de la Plata. París, Centro de Estudios de Literaturas y Civilizaciones del Río de la Plata, 1985, n. 1.tástico en España e Hispanoamérica. Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1991.
CAMPRA, Rosalba. Los silencios del texto en la literatura fantástica. En: El relato fan
CORTÁZAR, Julio. “El sentimiento de lo fantástico“. Conferencia dada por Julio Cortázar en la Universidad Católica Andrés Bello, 1982.
CORTÁZAR, Julio. Notas sobre lo gótico en el Río de la Plata. En: Obra Crítica 3. Buenos Aires: Alfaguara, 1994, p. 85.
CORTÁZAR, Julio. Tercera clase. El cuento fantástico II: la fatalidad. En: Clases de Literatura. Berkeley, 1980. Buenos Aires: Alfaguara, 2013, p. 71.
DABOVE, Santiago. Tren. En: La muerte y su traje. Buenos Aires: Liberarias/Prodhufi, 1993.
DE SANTIS, Pablo. Equipaje. En Rey Secreto. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2005, pp. 100-102.
JACKSON, Rosmary. Fantasy. Literatura y subversión. Buenos Aires: Catálogos Editora, 1986, p. 18.
LE GUIN, Úrsula K. “Verosimilitud en la fantasía”. Carta abierta a Alexei Mutovkin.
MARIÑO, Ricardo. Ojos amarillos. Lavandeira, Sandra (ilustr.). Buenos Aires: Alfaguara, 2001.
REST, Jaime. Nota Preliminar. En: El cuento fantástico y de horror. Buenos Aires: CEAL, 1977, p. 9.
TODOROV, Tzvetan. Introducción a la literatura fantástica. Barcelona: Paidós, 2006.
VILLAFAÑE, Javier. La cucaracha. Buenos Aires: Hachette, 1967.
Notas
- 1Este texto foi lido na 24ª Feira do Livro Infantil e Juvenil de Buenos Aires, organizada pela Fundação do Livro (julho de 2014).
- 2Rest, Jaime. Op. cit., p. 10.
- 3Campra, Rosalba. Op. cit.
- 4Jackson, Rosmary. Op. cit., pp. 82-83.
- 5Cortázar, Julio. Op. cit. 2013, p. 82.
- 6Cortázar, Julio. Ob. cit. 2013, p. 84.
- 7Campra, Rosalba. Op. cit.
- 8Jackson, Rosmary. Op. cit., p. 166.
- 9Le Guin, Úrsula K. “Verosimilitud en la fantasía”. Carta abierta a Alexei Mutovkin.
- 10Jackson, Rosmary. Op. cit., p. 18.
- 11Cortázar, Julio. Op. cit., 1994.