“Um livro não é, de maneira alguma, moral ou imoral.
Os livros são bem ou mal escritos.
Isso é tudo.”
Oscar Wilde1Fragmento do “Prefácio”, de Oscar Wilde a O retrato de Dorian Gray, obra acusada pelos contemporâneos ao escritor de imoral e decadente. No prefácio Wilde teoriza sobre a arte e teve por objetivo defender-se das acusações recebidas.
“A literatura não reconhece nenhuma lei, nenhuma norma, nenhum valor.
A literatura, como o demoníaco, só se define negativamente, pronunciando
uma ou outra vez seu “non serviam”. Tratando, desde sempre, da condição humana,
e da ação humana, oferece tanto o belo quanto o monstruoso,
tanto o justo quanto o injusto, tanto o virtuoso quanto o perverso.
E não se submete, ao menos em princípio, a nenhuma serventia.
Nem ao menos moral. A experiência da literatura é avessa à moral,
escapa à moral, e não se submete, sem violência, à sua soberania.”
Jorge Larrosa2Jorge Larrosa. “Venenos y antídotos”. Em: La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Barcelona: Laertes, 1998.
Tenho em meu escritório vários catálogos de literatura infantil e juvenil de diversas editoras. Em todos eles, geralmente na última página, encontro um índice, em cores, com duas entradas. O eixo vertical contém a lista do acervo bibliográfico da editora; o eixo horizontal enumera o que, segundo indica o título (“Índice Educação em Valores”, “Classificação por valores”, “Eixos Transversais”, “Educação para…”), são valores. Desse modo, seguindo a lógica que impõe este tipo de índice, devo deduzir que nos livros listados na coluna da esquerda encontrarei os valores mencionados acima: amizade/amor, comunicação, compromisso, consciência ecológica e social, diversidade/tolerância, liberdade, aprendizagem, autonomia, avanços científicos, busca por verdade, convivência, familiar, espiritualidade, honestidade, paz, promoção do bem, trabalho, coragem… a lista é eclética, abundante e varia, ainda que pouco, de uma editora para outra.
Aos índices que classificam o acervo bibliográfico, às coleções especificamente criadas com a finalidade de educar com valores, devemos acrescentar guias para os professores, com “Projetos de leitura e educação com valores”. Os projetos incluem a seleção do material, os objetivos, as atividades, e as avaliações baseadas nos valores em questão. À breve síntese argumentativa e detalhada da edição de cada livro proposto se agrega (caso o docente tenha alguma dúvida) uma lista de palavras-chave sobre os valores discutidos na obra.
O que aconteceu no campo dos livros para crianças para que as editoras insistam em cruzar moral e literatura? Algo está acontecendo na sociedade, mas particularmente na escola, principal comprador de livros infantis, para que as empresas apontem seus dardos nos valores, como uma evidente estratégia de mercado. A moral e os livros reunidos numa estratégia de marketing.
A revista especializada em literatura infantil e juvenil La Mancha3La Mancha. Papeles de literatura infantil y juvenil, nº 17. Buenos Aires, noviembre de 2003; pp. 7-10., editada em Buenos Aires, publicou um artigo de Ana Garralón intitulado “Literatura com valores”. Na introdução, Garralón destaca:
Existe uma literatura infantil e juvenil que pretende educar por meio do exercício tolerante da liberdade; que menospreza os velhos papéis machistas; que postula um ideal de paz como única arma possível para ganhar o futuro, que pretende estabelecer uma relação não predatória com o meio ambiente; que rechaça a marginalidade social, o racismo, o abuso indiscriminado das minorias. Existe, definitivamente, uma literatura infantil e juvenil que foge de visões idílicas e proporciona a crianças e jovens uma leitura mais certeira. São livros para interpretar a realidade.
Ao longo do artigo, a autora faz uma descrição da atual produção de livros infantis e juvenis em relação a uma série de subtítulos e temas: “Direitos humanos e pacifismo”; “Defesa do meio ambiente”; “Feminismo”; “Marginalidade”. Para concluir, Garralón afirma:
Se observarmos a produção literária para crianças e jovens, descobriremos que uma parte importante se dedica à literatura com valores, à literatura que dá referências de comportamento, que interpreta a realidade e, o mais importante, recapacita o leitor.
Valores e leitura. Estudos multidisciplinares é o título de uma publicação de 259 páginas, realizada por um grupo de pesquisadores do CEPLI (Centro de Estudos de Promoção da Leitura e Literatura Infantil), pertencente à Universidade de Castilla-La Mancha, Espanha. O volume inclui sete artigos baseados em estudos em torno da transmissão de valores através da leitura; e uma extensa bibliografia sobre valores, leitura, literatura infantil e juvenil. Para exemplificar as ideias que fundamentam as pesquisas que sustentam o livro, cito dois fragmentos do artigo: “A transmissão e recepção de valores a partir da leitura. Um estudo com crianças do Ensino Fundamental”, escrito por Sandra Sánchez e Santiago Yubero:
O objetivo desta investigação baseou-se no estudo dos valores percebidos pelas crianças em diferentes obras de Roald Dahl, analisando essas percepções em função das crenças dos leitores e de sua própria imersão na cultura atual, considerando, por sua vez, os valores originários com os que o autor constrói sua obra.
… devemos confirmar que a ideia desse estudo tem sentido se pensarmos que como educadores ou mediadores devemos conhecer qual é o processo de recepção de valores que as crianças constroem quando leem um texto, com o objetivo de estabelecer indicadores na seleção das leituras, que unidos a sua qualidade literária, podem oferecer elementos de reflexão que estimulem seu desenvolvimento pessoal e social. (págs. 95-123)
Nora Lía Sormani, em um texto intitulado “A literatura infantil e juvenil, resistência no humanismo. E depois?”, descreve uma literatura infantil e juvenil atual, ligada aos valores do humanismo. Nomeia títulos de autores que considera formadores do espírito humanista e encontra em Dickens, Mark Twain, Michel Ende, Gianni Rodari, entre outros, uma tradição para estes livros:
É suficiente que haja excelentes escritores que pregam o humanismo? Minha resposta é não. Também terá de haver excelentes mediadores (…). Se as ações dos escritores e dos agentes mediadores são coerentes, o que falta então? Minha conclusão é que a corrente é interrompida, muitas vezes, porque a alma do homem, e da criança, é de natureza complexa. A ingenuidade está em acreditar que todos os leitores – adultos e crianças – querem o bem, a integração e os valores mais sagrados do humanismo. Devemos assumir que o pior inimigo do homem é outro homem, e que o mal de ser humano – isso está altamente comprovado – não está fora dele, mas muitas vezes, em seu interior, está em sua natureza. E que as crianças reproduzem diariamente – e em escala – as maldades e desastres que praticam seus pais.
E mais no final da apresentação, os termos se radicalizam e o artigo exorta os “intelectuais comprometidos na defesa das crianças”.
Para que tomemos consciência de uma vez por todas de que devemos lutar incessantemente para difundir estes grandes textos. Como se fosse uma batalha aberta e escancarada contra os homens (e isso inclui um setor de leitores, escritores e agentes mediadores) que se empenham em contaminar, viciar, desalojar e destruir a vida e as ilusões de nossas crianças. São legiões, e não nos enganemos, nossa tarefa de defender e difundir a literatura infantil e juvenil humanista é URGENTE. O inimigo está nos atacando por todos os lados…
Estes textos e pesquisas de especialistas em literatura para crianças e jovens, dão exemplos da lógica subjacente a uma proposta de transmissão de valores através da literatura infantil. Possuem uma base comum: um nós, o dos “intelectuais comprometidos com a causa das crianças e o humanismo”, o dos adultos bem intencionados; frente a outra, a criança, depositária de um programa a ser realizado: “a formação de seres mais nobres e sensíveis”, “a formação integral de nossas crianças”, através de um conjunto de valores que se coloca em risco, em perigo de extinção na sociedade atual.
A proposta de uso de textos literários para a transmissão de valores vigentes se multiplica nas escolas, em projetos institucionais, em práticas de leitura e escrita literária nas aulas etc, etc…
Diferentes agentes do campo da literatura para crianças (editores, autores, pais, especialistas, diretores, professores, bibliotecários…) assim como os meios de comunicação de massa, fazem coro a esse discurso dedicado a imprimir o predomínio de uma função social-pedagógica-moral na leitura dos textos destinados às novas gerações. E o que temos é um debate e uma discussão pobres. A discussão parece uníssona: a dos valores, como se a submissão à moral da literatura infantil e juvenil estivesse fora de discussão. Contudo, há muito o que discutir, e muito o que perguntar.
Por que hoje esse discurso pedagógico-dogmático4Nesse caso, a expressão “pedagogia dogmática” é de Jorge Larrosa. Em: “La novela pedagógica”, en Pedagogía Profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad, formación. Buenos Aires: Novedades Educativas, 2000. También em La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. México: Fondo de Cultura Económica, 2003; Colección Espacios para la lectura. de transmissão dos valores às novas gerações tem tanta força? Por que a literatura e outras manifestações artísticas são eleitas como formas privilegiadas para essa transmissão? Por que a literatura infantil resulta tão permeável a este uso moral a que ela se submete? Que concepção de criança pressupõe este programa de transmissão de valores? Que concepção de leitura, em particular de leitura literária, e de leitor, implica este uso moral do literário?…
O perigo da infância
Antes de adentrarmos na literatura infantil, seu processo histórico em relação à moral, sua vinculação com a escola… gostaria de refletir brevemente sobre a representação da infância subjacente a essas propostas de “educação com valores” por meio da literatura.
Para isso, recorro a um texto muito esclarecedor que é O enigma da infância, de Jorge Larrosa. Além disso, vou expor alguns elementos desse artigo e outros que não posso deixar de cruzar sobre o tema da infância e sua representação.
Nossa sociedade construiu e aperfeiçoou toda ordem de saberes, práticas, instituições em torno das crianças. A psicologia, a pedagogia, a sociologia, a história, a arte para crianças, os livros infantis, os jogos, as atividades de recreação, os profissionais especializados etc. Os historiadores nos ensinam que o conceito de infância é relativamente novo no Ocidente, e que a representação pictórica de crianças toma forma durante o século XVII e XVIII, e que a criança, tal como se conhece atualmente, era impensável na Idade Média, que a considerava e a representava como um adulto em miniatura. Essa situação tinha razões demográficas, a morte de crianças era um fato cotidiano, e não se podia levar a sério essa breve e evanescente etapa da vida[mfnSobre este assunto, cf.: Philippe Ariés. “El descubrimiento de la infancia”, em: El niño y la vida familiar en el antiguo régimen; Sdt. Jacques Gélis, “La individualización del niño”. Em: Historia de la vida privada. Tomo 5. Madri: Taurus, 1990.[/mfn].
Hoje resulta estranho pensar que nem sempre os adultos tivemos frente às crianças a quantidade de interesses e “certezas” atuais. Ainda hoje sobrevivem contos populares violentos e cruéis que os pequenos compartiam com os adultos. Diz-se que as crianças se apropriaram daqueles relatos antigos, mas se levarmos em conta os historiadores descobrimos que eles, junto com seus pais e outros adultos, eram os destinatários diretos dessas histórias.
A infância se torna, como diz Larrosa, algo que “nossos saberes, nossas práticas e nossas instituições já capturaram: algo que podemos explicar e nomear, sobre o que podemos intervir, algo que podemos acolher (pág. 166).
Sobre a infância sabemos e sobre ela intervimos; é objeto de nosso conhecimento e de nosso poder. E, contudo, ao mesmo tempo, “a infância é o outro: o que sempre está além de qualquer tentativa de captura, pondo à prova nossos saberes, questionando o poder de nossas práticas e abrindo um fosso no qual o edifício bem construído de nossas instituições de acolhimento mergulha” (pág. 166).
Localizar-nos no lugar das certezas acerca da infância, desconhecer “o enigma” de que nos fala Larrosa, pode significar reduzir a criança que temos diante à nosso “mapa da criança”, à nosso modelo do que uma criança é ou deve ser. Saber o que é “a criança”, o que necessita e deseja, nos torna os “todo poderosos” e cegos frente ao olhar do outro, frente a sua inquietante chamada.
Larrosa afirma:
… não se trata de, como adultos, como pessoas que já estamos no mundo, que já sabemos como é o mundo e até para onde vai ou onde deveria ir, que já temos certos projetos para o mundo, transformar a infância na matéria-prima para a realização de nossos projetos sobre o mundo, de nossas previsões, de nossos desejos ou de nossas expectativas sobre o futuro. Por exemplo, uma determinada ideia de vida humana, de convivência humana ou de progresso humano que a educação, a partir da infância, deveria tratar de realizar. (pág. 170).
Não se trata de pensar as crianças como argila que vamos moldar, seja para um projeto individual, seja para uma utopia coletiva.
Se escutamos ou lemos os enunciados sobre a “educação com valores” através dos contos infantis, sentimos essa forte marca autoritária. “O mundo está mal, devemos mudá-lo, faremos essa mudança transmitindo às novas gerações a receita de um mundo melhor, moldaremos as crianças e jovens segundo nossos projetos e para isso nada melhor que a palavra poética, a literatura”. Se toma da literatura seu caráter gratuito, despojando-a de sua liberdade, e transformando-a em veículo útil e eficiente para construir seres humanos melhores, que farão um mundo melhor (segundo nossos projetos).
A literatura infantil e a moral: velhas conhecidas
Há um livro interessantíssimo de Mark Twain (1835-1910), História de um menininho bom. História de um menininho mau. O livro conta duas histórias: a de Jacob Blivens, um pequeno que se esforça em cumprir o modelo de bom menino que lê nos livros da escola dominical, mas para quem nada dá certo como nos livros e termina morto com seu corpo despedaçado em uma explosão; e a de Jim, um menino mau para quem, diferentemente dos meninos maus dos livros, tudo deu certo. Quando cresce, Jim fica rico e obtém um cargo na Câmara Legislativa.
A ironia desenfreada de Mark Twain só faz denunciar com humor a hipocrisia e o cansaço de uma literatura para crianças didática e moralizante. O abismo entre esse mundo ideal apresentado às crianças e as verdadeiras regras que regem a sociedade adulta. Gianni Rodari referindo-se ao mesmo tema, contextualiza sua dimensão histórica e política:
A literatura infantil, em seu início, servia à pedagogia e à didática, se dirigia à criança em fase escolar – que já é uma criança artificial – de uniforme, mensurável segundo critérios meramente escolares baseados no rendimento, na conduta, na capacidade de adequar-se ao modelo escolar. Entre os séculos XVII e XVIII nascem as primeiras escolas populares, último fruto das revoluções democráticas e da industrialização. Fazem falta livros para essas escolas; livros para ‘os filhos do povo’. Que lhes ensinarão as virtudes indispensáveis para as classes dominadas; a obediência, o trabalho, a fugacidade, a economia. A literatura infantil é um dos veículos da ideologia das classes dominantes. (“La imaginación en la literatura infantil“)
O acervo da literatura infantil se construiu a partir das adaptações populares de textos da literatura adulta: literatura de cordel, literatura marginal, a Biblioteca Azul…5“Em uma análise sobre as origens da literatura infantil – “La crítica de literatura infantil en Argentina”. Em: Memorias. 27º Congreso IBBY – a pesquisadora Maite Alvorado, seguindo Chartier, recorda o caso da Biblioteca Azul na França, tratou de um empreendimento editorial que entre os séculos XVII e XVIII dedicou-se a adaptar para leitores populares textos religiosos, literários e de informação em geral. Essa ideia de adaptação a um determinado leitor, recém-chegado à leitura escrita, é fundamental para pensar muitas das operações que logo se fizeram quando se tratava de escrever para crianças. No caso dos textos da Biblioteca Azul, as reformulações que foram feitas nos textos originais estavam destinadas a facilitar a oralidade. Pensava-se em um leitor mais familiarizado com as práticas orais que as escritas, e aqui vemos um novo paralelismo com o destinatário infantil, sobretudo com o que inicia com as práticas leitoras. Também se representava com uma capacidade de concentração escassa, com tendência a interromper frequentemente a leitura. Por essa razão, nessas adaptações era necessário recorrer à ajuda da memória para não perder o fio narrativo e às ajudas gráficas. Para que o texto escrito se aproxime o máximo possível do texto oral, reduziam-se os relatos eliminando descrições, de modo que se preservavam somente as ações, além de simplificar as orações. Por outro lado – isso nos recorda a origem tão ligada ao aspecto formativo da literatura infantil, as adaptações dos textos tinham a ver com razões morais ou religiosas, já que se eliminava tudo aquilo que era contra a moral ou a ideologia da época”. Fragmento do artigo “Abrir el juego en la literatura infantil”, de Cecilia Bajour e Marcela Carranza, publicado em Imaginaria nº 158 (6 de julho de 2005)., assim como os relatos da tradição oral, a que se somou, em meados do século XIX uma literatura de autor destinada às crianças, com nomes como Lewis Carrol, Hans Christian Andersen, Carlo Collodi. Nas palavras de Graciela Montes:
Sobre toda essa velha ficção, a pedagogia exerceu, durante o século XVIII, XIX e boa parte do XX, estreita vigilância. Intervém de diferentes maneiras: às vezes censurando, mas outras canonizando ou (des)canonizando, desaconselhando ou recomendando. Já se sabe – ou se acredita saber, no século XVIII em diante – como é a criança; de maneira que se pode pontuar acerca de quais são as coisas que pode, deve ou não deve ler e quais formas são as apropriadas para se ler. Aparece a ideia do formativo, a leitura proveitosa. Isso, obviamente, perdura.
Na Argentina, por volta dos anos 1980, a partir da restauração da democracia e o fim de uma etapa de obscurantismo, censura e brutal repressão no âmbito intelectual e cultural do qual a literatura para crianças não esteve alheia, um grupo de autores, editores, especialistas, bibliotecários, professores e outros agentes do campo da literatura infantil deram lugar a uma importante mudança no que diz respeito à produção e difusão de livros para crianças. O conjunto da literatura infantil desta nova etapa democrática reagiu contra a literatura moralista e instrumental que vigorava anteriormente; uma literatura a serviço da manutenção da ditadura militar no poder.
María Adelia Diaz Rönner, em seu livro Cara y cruz de la literatura infantil6María Adelia Díaz Rönner, Cara y cruz de la literatura infantil. Buenos Aires: Libros del Quirquincho, 1989. Nota de Imaginaria: O livro foi reeditado por Lugar Editorial (Buenos Aires, 2001; Colección Relecturas). Na revista Imaginaria, publicamos o capítulo “De qué se trata esta literatura y por qué conviene saberlo” (de onde foi extraído o fragmento que cita Marcela Carranza); além da nota introdutória ao livro de Susana Itzcovich, e seu prólogo, preparado por Gustavo Bombini., editado nesses anos de efervescência inovadora pela editora Libros Del Quirquincho, trata das intromissões ou interferências que outras disciplinas provocam no tratamento do literário infantil. Entre essas intromissões, Diaz Rönner destaca “a moralização das moralidades”:
Um caminho torto toma nossa peculiar literatura infantil quando se observam suas utilidades ou serviços morais ou moralizantes. (…) O discurso didático que aponta a moralidade ou a moral engendra verdadeiros problemas, já que desvia o prazer pelo texto literário – em seu grau de gratuidade e transgressão permanente – para os leitores iniciantes. Os educadores, pais e docentes, deturpam, muitas vezes, a direção plural dos textos para consumá-los em uma zona utilitárista de moralização. (…) O literário se subordina à exemplificação de pautas consagradas que tendem perigosamente a homogeneizar as condutas sociais desde a infância. Ou, sensivelmente, sugere que sejam acatadas sem nenhuma crítica. (pag. 19)
A pergunta que falta fazer é se, atualmente, esta instrumentalização moralista da literatura é uma etapa superada. Concordo com Ricardo Mariño (“El terreno donde crece la literatura infantil”, págs 13-14) quando destaca que nos dias de hoje há algo mais que “resquícios” dessa posição, pois os conteúdos moralizantes foram substituídos por textos destinados a difundir modos de entender a realidade e seus conflitos a partir de uma observação “progressista”. Trata-se de conteúdos atuais e, por essa razão, quase invisíveis, que utilizando um termo da moda poderíamos chamar de “politicamente corretos”7James Finn Garner parodia este cruzamento do discurso politicamente correto dos anos 90 e os livros para crianças em Cuentos infantiles políticamente correctos (Barcelona: CIRCE, 1995)..
Tratei da realidade argentina, porque é a que conheço, mas não seria certo circunscrever a nosso país a moralização da literatura infantil e juvenil no século XXI. O discurso dos valores, como bem mostram publicações estrangeiras especializadas, e, claro, os textos e coleções, transcendem as fronteiras.
Mais que “resquícios” de uma moral vigente, existe toda uma produção pensada – a priori – com, a finalidade de ensinar à criança ou o jovem a entender o mundo e a si mesmo a partir de um ideal oficial em uma sociedade “democrática”. Livros criados para ensinar a ser tolerantes, a não discriminar, a resolver os conflitos dialogando, a cuidar do meio ambiente, a viver em paz… Livros que tratam de temas sociais como AIDS, pobreza, delinquência, anorexia… Livros a la carte, feitos sob medida, prontos para qualquer necessidade didática de transmissão de “conteúdos transversais” às crianças-alunos. E também – e sobretudo – um modo de leitura, uma tutela pedagógica moralizante sobre a totalidade da literatura destinada às crianças.
A literatura e os modos de leitura
Utilizar a literatura para transmissão de uma mensagem (não importa de que caráter ideológico estamos falando), não seria outra coisa que se valer de um instrumento sofisticado para convencer o leitor acerca de alguma verdade dada. No caso em questão (o de uma verdade de tipo moral) se trata, ainda, de exortar o leitor a atuar de uma determinada maneira. Não estamos longe, portanto, da função própria da publicidade, da propaganda, do panfleto ou do sermão.
Quando o texto literário é utilizado com a finalidade básica da comunicação de um conteúdo predeterminado (presente no texto de maneira explícita ou induzido a partir de uma leitura direcionada por parte do mediador), o emissor da mensagem (o autor, o mediador) possui um projeto sobre o destinatário; e suas decisões (no texto, ou em situação de leitura) estarão destinadas a assegurar a eficácia da transmissão do já mencionado conteúdo. Tudo isso em detrimento da plurissignificação do texto, e da liberdade do leitor de encontrar outros significados para além do “oficialmente válido”.
Podemos afirmar, como faz Jorge Larrosa em relação à novela pedagógica, que o caráter pedagógico de um texto literário, é um resultado da leitura mais que uma característica intrínseca aos textos (ainda que muitos livros sejam escritos para favorecer sua leitura pedagógica). Toda ficção, todo relato, pode ser lido a partir da busca por um ensinamento, uma mensagem que o autor supostamente depositou no texto para ser revelada para os leitores. Todo texto literário, portanto, pode ser lido alegoricamente, como se tratasse de uma parábola bíblica. A busca por uma mensagem moral nos textos literários, seria, antes de tudo, uma modalidade de leitura.
O discurso dos valores, a saber, o da moral consensual em nossa sociedade, apropria-se da literatura com a finalidade de transmitir, com eficácia, seus conteúdos. Para isso, seleciona-se o texto segundo critérios morais, que nada tem a ver com o literário e se estabelece um modo “legítimo e único” de relação com o texto, controla-se que essa relação responda ao projeto de transmissão de mensagem, finalmente se avalia a realização dessa transmissão.
Para o sucesso de uma leitura pedagógica é necessário reduzir as possibilidades de significação do texto a um único sentido válido e predeterminado. Para alcançar isso ou bem o mediador se assegura de que o texto contenha de forma o mais evidente possível a mensagem a transmitir, ou bem conduz a leitura de tal maneira que se imponha o sentido “correto”.
É claro que esse tipo de leitura favorece a seleção de textos em função da não ambiguidade da mensagem, e oferece às crianças/jovens leitores os textos já interpretados e comentados, já lidos, bem digeridos de antemão. Trata-se de impor a leitura única e “oficialmente” legitimada. De evitar todo o relativismo da interpretação do texto, especialmente no que tange a moral. Mas, para além das precauções tomadas na seleção do texto, ainda persistem possibilidades de outras leituras (que sempre existem), ali está o “leitor-especialista” autorizado (o professor, os pais, o biobliotecário…) com seus enunciados interpretativos para controlar que a leitura nunca ultrapasse o que foi previsto de antemão segundo o objetivo pedagógico.
Este modo de leitura pedagógico dogmático pode, obviamente, aplicar-se a toda a literatura, contudo, encontra seu meio ideal na literatura produzida para um destinatário infantil.
Maite Alvarado e Elena Massat, em “El tesoro de la Juventud“, definem a literatura infantil na intersecção de uma mensagem estética, literária, e uma mensagem que elas denominam apelativa (aquela que se vincula ao pedagógico e ao didático) em contradição com o primeiro. Esta dimensão apelativa, destacam as autoras, pode escurecer e até inibir a função estética.
No campo dos livros para crianças ocorre o que hoje, início do século XXI, é impensável no campo da literatura para adultos: a intromissão desenfreada e aberta de conteúdos morais nas diferentes instâncias de encontro entre os leitores e a literatura.
Literatura e ensinamento moral são incompatíveis. Pensemos, apenas por um momento, em qual seria a reação de Calvino, de um Gore Vidal, se lhes sugerissem uma “transversalização” moralizante em seus textos. Por que então, aquilo que se consideraria inconcebível na área adulta da literatura é tão facilmente aceito quando se trata de crianças leitoras? (Marina Colasanti, Fragatas para tierras lejanas. Conferencias sobre literatura, pg. 93).
Agora, se o que nos interessa como mediadores é oferecer às crianças literatura, abrir espaços de verdadeira literatura literária, e não outra coisa, devemos, sem dúvida, pensar em outros modos de aproximação dos textos.
A literatura (como a arte em geral) é plurissignificativa, ambígua, inapreensível em suas possibilidades de significação. A seleção dos textos deve, portanto, privilegiar esta plurissignificação, favorecer esta liberdade e abertura à interpretação do leitor. E, para além do texto, torna-se necessário pensar em situações de leituras alheias ao controle sobre os significados. Trata-se de uma atitude de escuta e de encontro com os textos e os leitores. Um espaço aberto ao desenvolvimento de todas as leituras possíveis. Trata-se do respeito às múltiplas interpretações, livres, selvagens, hereges… uma escuta atenta da leitura dos outros (não importa a idade que tenham.)
Tudo isso é o contrário de uma leitura “certa” para interpretar a realidade, uma leitura que proporciona a unilateralidade de significados “verdadeiros e legítimos” segundo quem escreve ou faz a mediação dos textos ao leitor infantil/juvenil.
Pensemos, então, em uma modalidade de leitura que outorgue liberdade e oxigenação aos leitores em suas inúmeras possibilidades de interpretação de um texto; liberdade e oxigenação para os textos literários em suas pluralidades de significação.
Os perigos da leitura literária
Por que a solidão do leitor ou da leitora frente ao texto inspirou medo em todas as épocas? Claro que existem medos relativos ao conteúdo dos livros, de que todos os “iniciadores” querem “proteger” o leitor. Subsiste, ainda hoje, e mais do que supomos, o temor de que o livro instale em nós algo pernicioso, indisciplinado. Ou que seja recebido de maneira extraviada, incontrolável, que alguém encontre nele algo diferente do convencional. Mas mais do que o conteúdo dos livros, o que dá medo, me parece, é o gesto da leitura, que constitui um desapego, uma forma de desviar-se. Os leitores e as leitoras irritam porque não se pode exercer influência sobre eles, porque escapam. São como traidores ou desertores…
Michele Petit, Lectura literaria y construcción de sí mismo, (pg. 53).
A literatura é ambígua e o é também – e sobretudo – a partir do ponto de vista moral. Como escreve em seu “Prefácio” Oscar Wilde, que sofreu na pele os efeitos da censura moral de sua época: a literatura escapa à moral, a literatura é amoral. Assim, toda literatura ou o controle moral sobre a literatura supõe uma forma de censura. Desde a censura brutal, como a queima de livros durante os regimes ditatoriais, a censura doméstica na seleção de textos baseados em critérios morais, ou na coerção leitora para a busca de mensagens de plantão.
Se a literatura nos fala do mundo e nos transforma, não nos transmite formas já digeridas de como ver o mundo e como atuar nele. Não é sua função nos dizer como devemos pensar e atuar segundo formas canonizadas, instituídas, oficiais de pensamento e ação. Para a literatura, o mundo não é algo sobre o que tudo já se sabe, e, portanto, não é necessário nada alem de repetir o que já foi dito. Os textos literários – e sua leitura livre – como acontece com a recepção da arte em geral – nos mobilizam para a busca pessoal e imprevisível de rotas para a compreensão do mundo e de nós mesmos. Se lemos os textos da literatura com liberdade, complexidade, ambiguidade, inatingíveis, nos preparamos para ler em liberdade a realidade complexa, ambígua, inatingível (absurda, incompreensível?) que nos rodeia.
A literatura – e nisso ela se parece muito com as crianças – é perigosa porque perturba as formas cristalizadas que damos (e que nos dão) para interpretar a realidade.
O poeta é um restaurador da infância na medida em que, tornando-se criança, renova a visão e abre o que foi suprimido e esquecido como possibilidade de experiência.
(La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación, pág. 79).
A literatura é perigosa porque atua sobre os leitores justamente no sentido contrário que qualquer modalidade de transmissão de um “dever ser”, socialmente consensual. A literatura é a busca e a descoberta de significados e não reprodução passiva de verdades digeridas por outros. Como um jogo – como a arte em geral – a literatura é gratuita, inútil, indomesticável.8Texto originalmente publicado na revista Imaginária, n° 181 | LECTURAS.
Tradução Thais Albieri
Referências Bibliográficas
Gianni Rodari, “La imaginación en la literatura infantil”. Artigo publicado originalmente na revista Perspectiva Escolar Nº 43, da Associación de Mestres Rosa Sensat (Barcelona, Espanha). Foi reproduzido também na revista Piedra Libre, Año 1, Nº 2 (Córdoba, CEDILIJ, set. 1987; págs. 4-13) e na Imaginaria Nº 125 (31 de mar. 2004).
Graciela Montes, Conferência dada no “Postítulo de Literatura Infantil y Juvenil de CePA” (Centro de Capacitação Docente). Buenos Aires, 2002.
Jacques Sdt. Gélis, “La individualización del niño”. Em: Historia de la vida privada. Tomo 5. Madri: Taurus, 1990.
James Finn Graner, Cuentos infantiles políticamente correctos. Barcelona: CIRCE, 1995.
Jorge Larrosa. “Venenos y antídotos”. Em: La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Barcelona: Laertes, 1998.
Larrosa Jorge. “El enigma de la infancia” y “La novela pedagógica y la pedagogización de la novela”. En: Pedagogía profana. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2000.
Maite Alvarado e Elena Massat, “El tesoro de la Juventud”. Em: Filología. Año XXIV. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1989.
María Adelia Díaz Rönner, Cara y cruz de la literatura infantil. Buenos Aires: Libros del Quirquincho, 1989. 2ªed.
Marina Colasanti, “La culpa es de los sofistas”. Em: Fragatas para tierras lejanas. Conferencias sobre literatura. Bogotá: Norma, 2004. Colección Catalejo.
Mark Twain, Historia de un niñito bueno. Historia de un niñito malo. Ilustrado por Ricardo Peláez. México: Fondo de Cultura Económica, 2005. Colección Clásicos.
Michèle Petit, Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México: Fondo de Cultura Económica, 2001. Colección Espacios para la lectura.
Philippe Áries, “El descubrimiento de la infancia”. Em: El niño y la vida familiar en el antiguo régimen; Pedro C. Cerrillo, Elisa Larrañaga e Santiago Yubero (coords.). Valores y lectura. Estudios multidisciplinares. Cuenca: Ediciones de la UCLM, 2004; Colección Arcadia.
Ricardo Mariño, “El terreno donde crece la literatura infantil”. Em: La Mancha. Papeles de literatura infantil y juvenil, nº 8. Buenos Aires, março de 1999
Sandra Sánchez e Santiago Yubero, “La transmisión y recepción de valores desde la lectura. Un estudio con niños de educación primaria”. Em: Valores y lectura. Estudios multidisciplinares. Castilla: Universidade de Castilla La Mancha, 2004.
Notas
- 1Fragmento do “Prefácio”, de Oscar Wilde a O retrato de Dorian Gray, obra acusada pelos contemporâneos ao escritor de imoral e decadente. No prefácio Wilde teoriza sobre a arte e teve por objetivo defender-se das acusações recebidas.
- 2Jorge Larrosa. “Venenos y antídotos”. Em: La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. Barcelona: Laertes, 1998.
- 3La Mancha. Papeles de literatura infantil y juvenil, nº 17. Buenos Aires, noviembre de 2003; pp. 7-10.
- 4Nesse caso, a expressão “pedagogia dogmática” é de Jorge Larrosa. Em: “La novela pedagógica”, en Pedagogía Profana. Estudios sobre lenguaje, subjetividad, formación. Buenos Aires: Novedades Educativas, 2000. También em La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y formación. México: Fondo de Cultura Económica, 2003; Colección Espacios para la lectura.
- 5“Em uma análise sobre as origens da literatura infantil – “La crítica de literatura infantil en Argentina”. Em: Memorias. 27º Congreso IBBY – a pesquisadora Maite Alvorado, seguindo Chartier, recorda o caso da Biblioteca Azul na França, tratou de um empreendimento editorial que entre os séculos XVII e XVIII dedicou-se a adaptar para leitores populares textos religiosos, literários e de informação em geral. Essa ideia de adaptação a um determinado leitor, recém-chegado à leitura escrita, é fundamental para pensar muitas das operações que logo se fizeram quando se tratava de escrever para crianças. No caso dos textos da Biblioteca Azul, as reformulações que foram feitas nos textos originais estavam destinadas a facilitar a oralidade. Pensava-se em um leitor mais familiarizado com as práticas orais que as escritas, e aqui vemos um novo paralelismo com o destinatário infantil, sobretudo com o que inicia com as práticas leitoras. Também se representava com uma capacidade de concentração escassa, com tendência a interromper frequentemente a leitura. Por essa razão, nessas adaptações era necessário recorrer à ajuda da memória para não perder o fio narrativo e às ajudas gráficas. Para que o texto escrito se aproxime o máximo possível do texto oral, reduziam-se os relatos eliminando descrições, de modo que se preservavam somente as ações, além de simplificar as orações. Por outro lado – isso nos recorda a origem tão ligada ao aspecto formativo da literatura infantil, as adaptações dos textos tinham a ver com razões morais ou religiosas, já que se eliminava tudo aquilo que era contra a moral ou a ideologia da época”. Fragmento do artigo “Abrir el juego en la literatura infantil”, de Cecilia Bajour e Marcela Carranza, publicado em Imaginaria nº 158 (6 de julho de 2005).
- 6María Adelia Díaz Rönner, Cara y cruz de la literatura infantil. Buenos Aires: Libros del Quirquincho, 1989. Nota de Imaginaria: O livro foi reeditado por Lugar Editorial (Buenos Aires, 2001; Colección Relecturas). Na revista Imaginaria, publicamos o capítulo “De qué se trata esta literatura y por qué conviene saberlo” (de onde foi extraído o fragmento que cita Marcela Carranza); além da nota introdutória ao livro de Susana Itzcovich, e seu prólogo, preparado por Gustavo Bombini.
- 7James Finn Garner parodia este cruzamento do discurso politicamente correto dos anos 90 e os livros para crianças em Cuentos infantiles políticamente correctos (Barcelona: CIRCE, 1995).
- 8Texto originalmente publicado na revista Imaginária, n° 181 | LECTURAS.

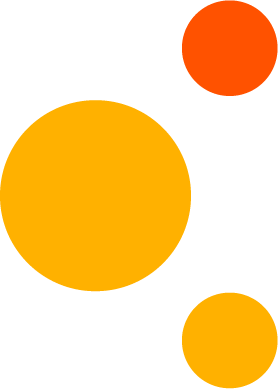



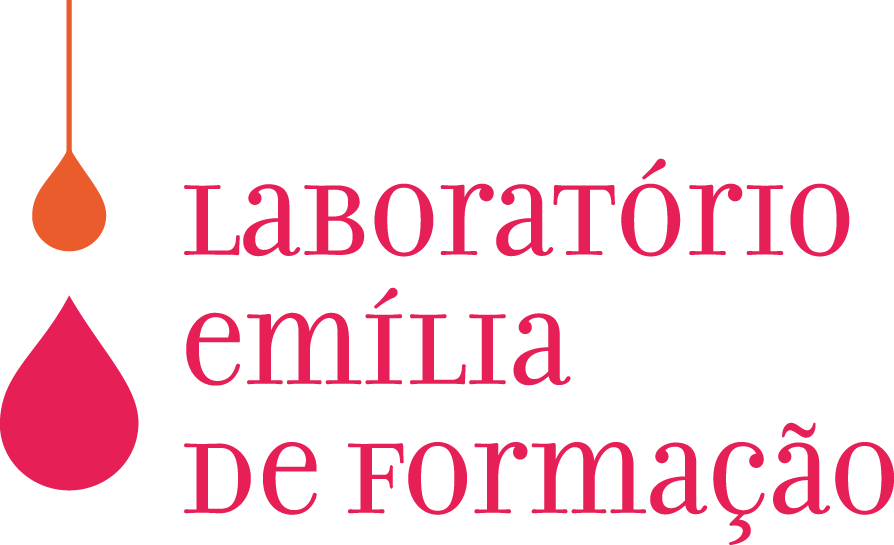
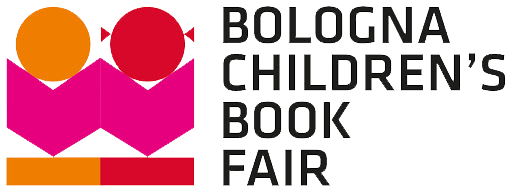


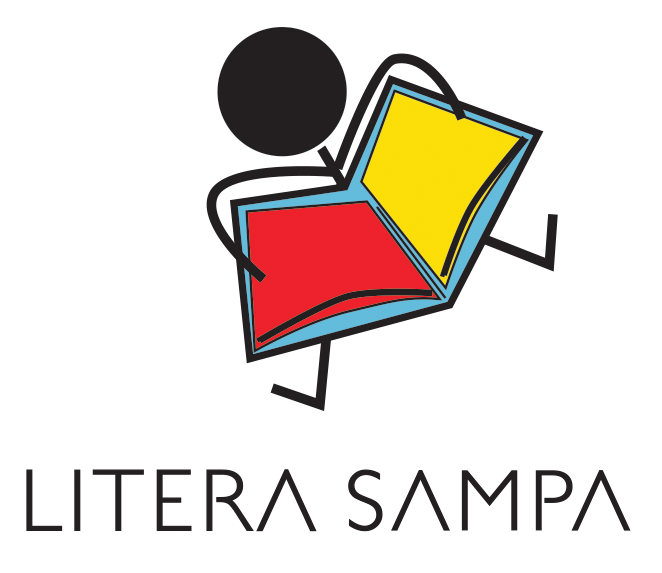

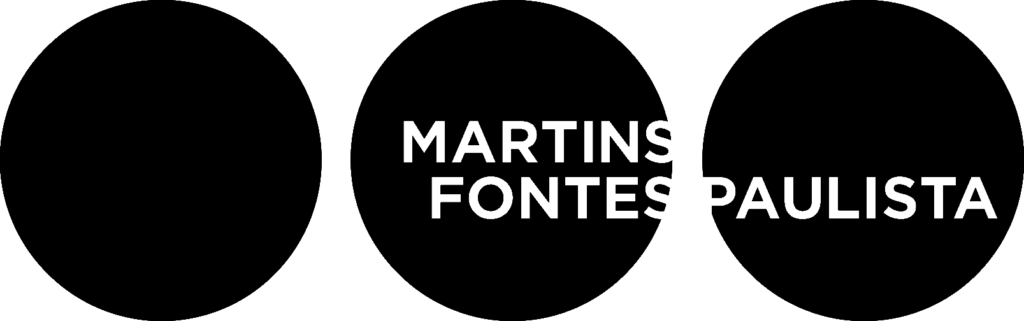



Uma resposta
Sua selvagem definição de Literatura me fez colocá-la lado a lado com a Filosofia. São indissociáveis, creio!