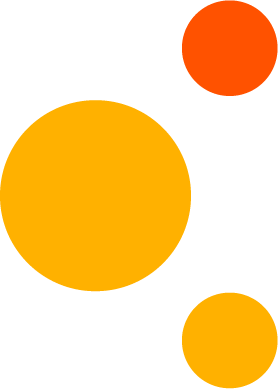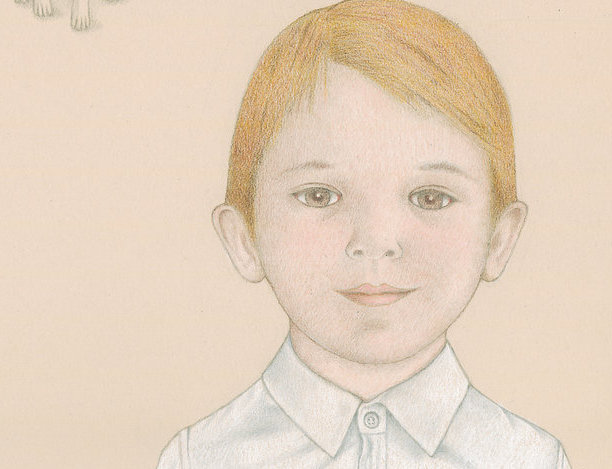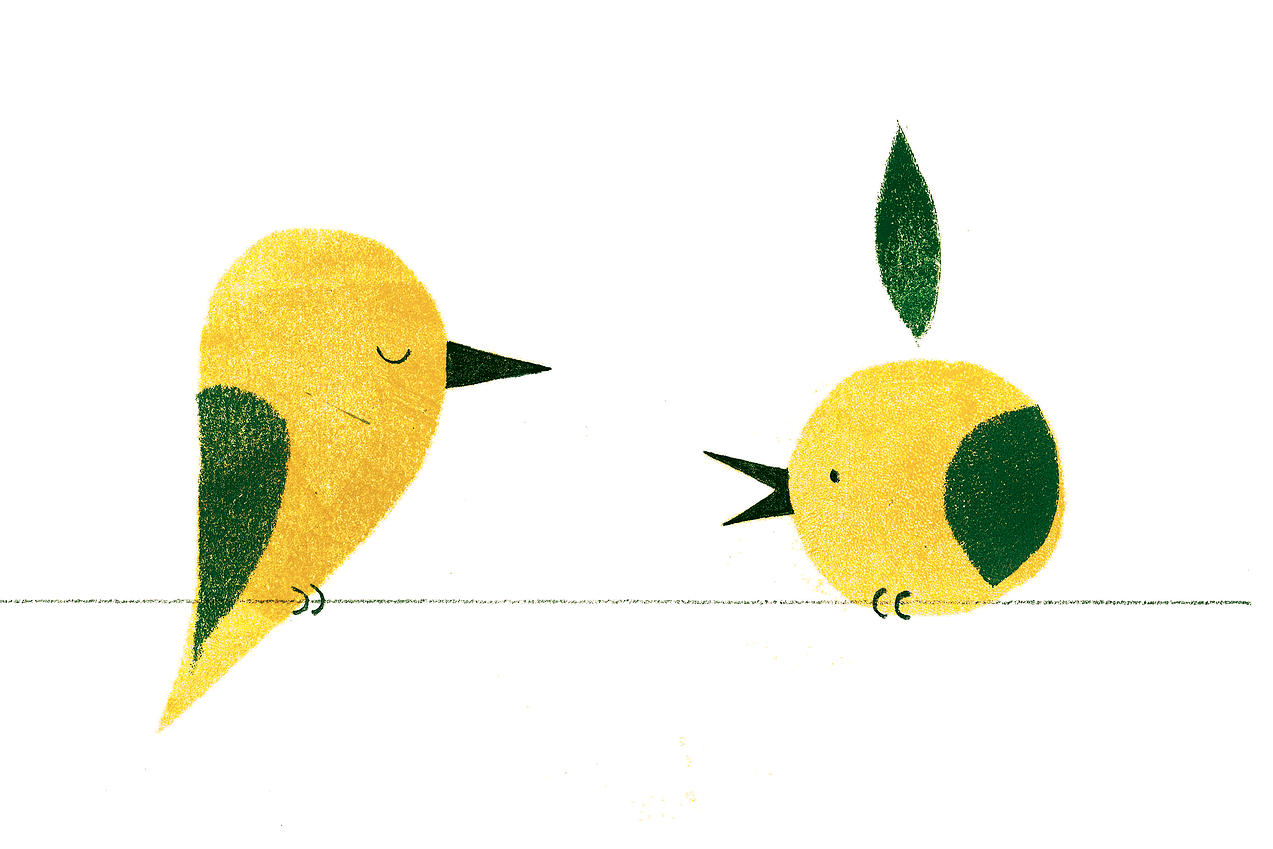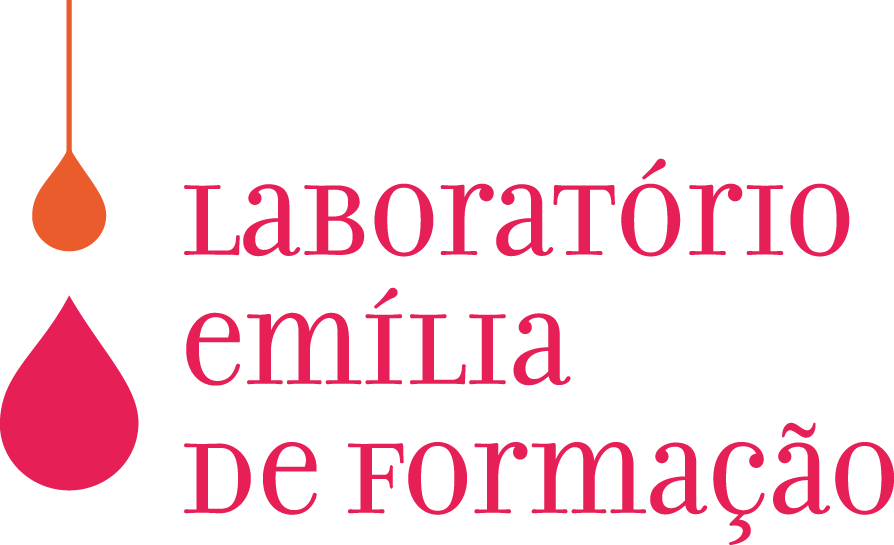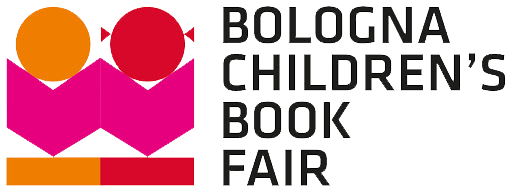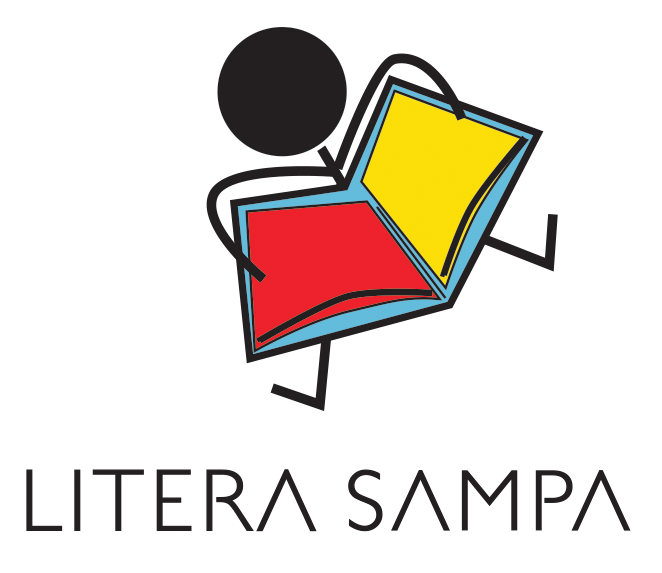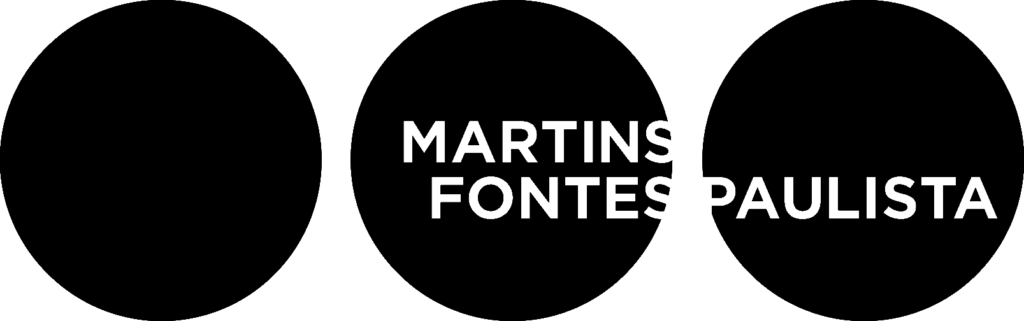Apontamentos sobre a importância da Alfabetização Midiática e Informacional (AMI)
Enquanto escrevo esse artigo para Revista Emília os números que vou elencar a seguir crescem exponencialmente. Sim, porque tudo na era da Informação, na Era das Mídias Digitais é exponencial. Tem escala, chega e atinge pessoas e lugares onde é impossível imaginar. Eis aí o “X” da questão.
Com o advento da internet, a apenas um clique, podemos acessar informações sobre pessoas, países, áreas, assuntos mais diversos, em todas as línguas, de todos os lugares. Informação é o nosso “ouro”, nosso petróleo, quem tem, possui poder.
Mais precisamente, são 25 milhões de terabytes gerados diariamente no mundo todo por mais de 3,7 bilhões de pessoas conectadas à internet – isto é, mais do que metade da população mundial.
Segundo dados compilados por Lori Lewis e Officially Chadd, na Visual Capitalist, um único minuto de internet representa:
- 1 milhão de logins no Facebook,
- 4,5 milhões de vídeos assistidos no YouTube,
- 55 mil fotos publicadas no Instagram
- 188 milhões de e-mails enviados
- 510 mil tweets postados no Twitter
- 1,4 milhão de perfis jogados para a direita ou para a esquerda no Tinder e
- um total de 41,6 milhões de mensagens enviadas no WhatsApp e no Facebook/ Messenger.
E, nesse mesmo minuto, na internet também acontecem:
- 3,8 milhões de consultas ao Google,
- 222 posts visualizados no Instagram
- e quase um milhão de dólares gastos online. 1Fontes: Forbes e Olhar Digital.
“Hoje, a cada dois dias, a humanidade cria mais informação do que os 100 mil anos de civilização até 2003”, disse Eric Schmidt, Presidente do Google. Uma edição de domingo do jornal “The New York Times” contém uma quantidade de informação maior do que aquela com que uma pessoa que viveu no século 17 se depararia em toda a sua vida.
Atualmente, temos mais celulares do que pessoas no Brasil. O último dado do IBGE mostrou, em agosto de 2018, que somos 208,5 milhões brasileiros e brasileiras. Já a 30ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), revela que existem 230 milhões de aparelhos celulares ativos em todo o País. Não é à toa que vemos pessoas conectadas aos seus smartphones como se fossem uma segunda pele e que os adolescentes padecem de uma síndrome já denominada FOMO, ou seja “Fear Of Missing Out” (medo de estar perdendo algo). Por isso desconectar está cada dia mais complicado.
Escrever e ler no mundo digital
Por outro lado, nem tudo é catastrófico no mundo on-line: nunca se escreveu e se leu tanto quanto no século em que vivemos. Segundo uma pesquisa realizada pela empresa Hitwise Serasa Experian, as redes sociais são responsáveis por 62% do tráfego de internet no Brasil. Em julho de 2009, 21,4 milhões de pessoas usaram algum tipo de rede social no país, isto é, cerca de 83% dos internautas residenciais, de acordo com o Ibope Nielsen Online. Hoje, com mais de 37 milhões de usuários de internet só no Brasil, essa tradição de escrita parece mais viva do que nunca, impulsionada por novas tecnologias e amplificada pela comunicação em rede. Não é exagero afirmar que e-mails, blogs e redes de relacionamento já deixaram sua marca na produção textual contemporânea.
Com cada vez mais usuários – o acesso à rede no Brasil aumentou 35% entre 2008 e 2009 – a internet está criando novos hábitos de comunicação entre as pessoas, que acabam se adaptando às facilidades da nova tecnologia. Isso vale tanto para a leitura, em vista da profusão de textos veiculados na rede, quanto para a escrita, principal meio de expressão do internauta (pelo menos até que as conversas “via voz” se tornem mais corriqueiras). 2Fonte: Eco Futuro.
Se cada vez se lê e se escreve mais nas telas de computador e dos smartphones, isso não quer dizer que temos mais leitores e escritores competentes. Dados do último PISA revelam que a maior parte dos alunos que fizeram a prova não conseguem diferenciar um fato de uma opinião. “Nunca tivemos tanta informação disponível e nunca foi tão difícil ler para entender o que o texto diz nas entrelinhas, separar fato de opinião e conectar o que foi lido com um repertório cultural mais amplo —competências absolutamente necessárias em tempos de revolução 4.0, em que a inteligência artificial substitui o trabalho humano que demanda competências intelectuais de nível mais básico”, afirma a educadora Cláudia Costin em seu artigo ”Ser leitor”3“Formar leitores para o século 21”. Folha de São Paulo..
Em uma pesquisa recente feita em Stanford, EUA, 86% dos alunos não souberam distinguir entre um artigo jornalístico e um conteúdo patrocinado: “As pessoas presumem que, porque os jovens são fluentes nas mídias sociais, eles são igualmente perspicazes sobre o que encontram lá. Nossa pesquisa demonstra que o oposto é verdade”, disse um dos professores que analisou os dados.
“Eu me choco agora até quando encontro estudantes brilhantes, pergunto suas fontes de informação e eles respondem: Facebook. Eu insisto: Sim, mas de onde vem antes do Facebook? Eles olham pra você com estranheza, sem entender. É muito importante sensibilzar os jovens para a existência de fontes confiáveis e não confiáveis. Que eles precisam questioná-las e não devem compartilhar a menos que saibam serem notícias verdadeiras. As pessoas têm toda a responsabilidade, como os jornalistas, em relação à informação. Daí a (importância da) alfabetização sobre mídia”, afirmou Alan Rusbridger, jornalista, professor e diretor do Instituto Reuters para o Estudo do Jornalismo.
O que é a Alfabetização Midiática e Informacional (AMI)?
E é aqui que a Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) entra como um recurso extremamente eficiente para a formação de leitores e escritores mais críticos, conscientes e responsáveis pelo que leem, veem, produzem e compartilham. A AMI trata da maneira como nos relacionamos com a informação e com o conhecimento, de como podemos ler, ver, escrever, publicar textos, fotos, vídeos, memes, fatos, opiniões e tudo o mais, participando ativamente como cidadãos que somos, detentores do direito à comunicação e à livre expressão. Todos sabemos que não é tarefa simples, mas já não podemos nos furtar a ela se quisermos atuar com responsabilidade e ética, na sociedade em que vivemos.
Desde 2008 a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) tem se dedicado a estudar com afinco as questões que envolvem a AMI. Em 2011 publicou um currículo pioneiro de formação de professores, disponibilizando-o gratuitamente para os educadores interessados em abordar esse assunto em suas aulas, em quaisquer disciplinas. Elaborado por especialistas do mundo inteiro em uma criação coletiva, o propósito do currículo é instrumentalizar o professor com reflexões e sugestões de atividades para que ele possa explorar os temas com segurança e criatividade. Ele pode ser acessado gratuitamente no link.
Segundo a Unesco a AMI:
“Refere-se às competências essenciais (conhecimentos, habilidades e atitudes) que permitem que os cidadãos engajem-se junto às mídias e outros provedores de informação de maneira efetiva, desenvolvendo o pensamento crítico e a aprendizagem continuada de habilidades, a fim de socializarem-se e de tornarem-se cidadãos ativos. (…) A compreensão e o uso das mídias de massa de maneira incisiva ou não, incluindo um entendimento bem informado e crítico das mídias, das técnicas que elas empregam e dos seus efeitos. Também inclui a capacidade de ler, analisar, avaliar e produzir a comunicação em uma série de formatos de mídias. Pode ainda ser compreendida como a capacidade de decodificar, analisar, avaliar e produzir comunicações de diversas formas.”
Ou seja, a AMI chega para complementar o que a escola sempre teve como objetivo: formar leitores competentes, críticos e criativos, capazes de compreender e transformar a realidade em que vivem. E, na era da Pós-Verdade, isso não é possível sem o estudo dessas mídias e os modos como elas produzem e veiculam as informações que nos chegam a todo instante.
Em consonância com a necessidade da nova geração, a nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) introduziu a AMI como conteúdo do Ensino Fundamental II, na área de Linguagens, em Língua Portuguesa, no Campo Jornalístico e Midiático. Isso significa que, necessariamente o aluno deverá refletir e experienciar práticas de comunicação orais e escritas, nos diferentes meios de comunicação e suportes midiáticos.
“Trata-se, em relação a este Campo, de ampliar e qualificar a participação das crianças, adolescentes e jovens nas práticas relativas ao trato com a informação e opinião, que estão no centro da esfera jornalística/midiática. Para além de construir conhecimentos e desenvolver habilidades envolvidas na escuta, leitura e produção de textos que circulam no campo, o que se pretende é propiciar experiências que permitam desenvolver nos adolescentes e jovens a sensibilidade para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua comunidade, na sua cidade e no mundo e afetam as vidas das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de escuta, leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias, e desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se situar em relação a interesses e posicionamentos diversos e possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar de discussões e debates de forma ética e respeitosa.”4Fonte: Base Nacional Comum Curricular.
Os desafios da educação na era da Pós-Verdade
Vivemos uma crise de credibilidade das instituições tradicionais: ciência, imprensa, pesquisadores e especialistas, dentre outras. Opiniões importam mais do que fatos. Como podemos oferecer referências confiáveis aos nossos jovens? Estamos imersos num mundo mediado e editado pelas grandes mídias. Como ensinar os jovens a fazer uma curadoria de informações acurada e eficaz?
Questões como essas estão no centro das preocupações dos educadores nessa chamada Era da Pós-Verdade, que foi eleita a palavra do ano em 2016. O termo foi definido pelo dicionário Oxford como um adjetivo “relativo a ou que denota circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal“. Ou seja, estamos vivendo, declaradamente, uma guerra entre os fatos e as opiniões, as evidências não convencem e no reino dos “achismos”, tudo o que é sólido se desmancha no ar.
Nesse sentido, é preciso preparar as crianças e jovens para viver e conviver nessa desordem informacional. As Fake News chegaram para provar que as informações falsas podem desconstruir verdades, destruir reputações, ameaçar democracias e liberdades individuais. Podemos defini-las como sendo notícias falsas, publicadas e divulgadas de modo a enganar o público, atendendo a algum interesse específico. Ou seja, seriam “um conteúdo deliberadamente inverídico produzido propositadamente de forma a simular uma notícia verdadeira com o objetivo de favorecer algo ou alguém”, segundo a definição do jornalista Frederico Franz, em seu artigo publicado no site da revista Scientic American5 Scientific American Brasil..
De acordo com o Dicionário de Cambridge, Fake News é uma história falsa que aparenta ser notícia, propagada por meio da internet ou outra forma de mídia, e que transmite informações equivocadas, distorcidas e sensacionalistas, criadas geralmente para influenciar determinado público-alvo.
Há quem diga que o termo é impreciso, porque notícias, por pressuposto, não são falsas, pois entende-se que devam ter sido checadas e ter tido a sua veracidade comprovada. Por outro lado, há quem defenda chamá-las sim, de “Fake News” ou de notícias falsas exatamente porque se valem dos recursos e técnicas jornalísticas para veicular suas informações e mentiras.
Fato é que as Fake News estão provocando uma verdadeira revolução na maneira como nos relacionamos com as informações. O maior estudo feito sobre o assunto publicado em março de 2018 na revista científica Science e realizado por pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos, revelou que, além de se alastrarem numa velocidade assustadora, as notícias falsas têm 70% mais chance de serem retransmitidas do que as notícias verdadeiras.
Um dos fatores que contribuem para isso é o fato de que as notícias falsas se valem da linguagem da ficção, apelando para sentimentos humanos que, na maior parte das vezes, não conseguimos controlar: como ódio, indignação, revolta, curiosidade e até mesmo solidariedade e desejo de mudar o mundo. Como afirma Renato Janine Ribeiro em seu artigo para a Folha de S. Paulo: “Difícil competir com o prazer, com o entretenimento, quando ele toma o lugar da notícia, da análise. O mundo real e sua cobertura, jornalística ou acadêmica, são prosaicos. Podem ser enfadonhos.”6Folha de São Paulo. Como vivemos num mundo “fantástico” idealizado nas redes sociais, enfrentar a realidade, que traz em si muitas dúvidas e incertezas, é incômodo.
Como não ser enganado pelas Fake News
Diante desse cenário que se apresenta é fundamental que a escola, local privilegiado de troca de conhecimentos, de construção de saberes, de diálogo e de aprendizagem, se reconheça como uma peça chave para combater a desinformação. Por isso, mais do que nunca, é preciso educar para a leitura da informação, como afirma o escritor Yuval Harari, em 21 lições para o século 21: “…a última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é, e acima de tudo combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo.”
É preciso construir com as crianças e jovens um conjunto de referências, habilidades e procedimentos para saber fazer uma curadoria de informações que contenha o que realmente é relevante para a sua formação cidadã. O leitor crítico deve estar atento e preparado para lidar com a avalanche de informações a que está submetido constantemente. O excesso de informações só traz mais confusão e não discernimento. “No passado, a censura funcionava bloqueando o fluxo de informação. No século XXI, ela o faz inundando as pessoas de informação irrelevante. Não sabemos mais a que prestar atenção e frequentemente passamos o tempo investigando e debatendo questões secundárias. Em tempos antigos ter poder significava ter acesso a dados. Atualmente ter poder significa saber o que ignorar. Assim, de tudo o que acontece em nosso mundo caótico, no que devemos nos concentrar?”, diz Yuval Noah Harari, em seu livro Homo Deus.
Hoje em dia não basta saber ler, temos que saber ler todas as linguagens em diferentes plataformas. Já sabemos que não basta ser um “consumidor de notícias”mas um leitor competente, crítico e atento aos muitos textos, contextos e subtextos que lê, ouve, escreve e compartilha. Como diz a pesquisadora Claire Wardle em seu artigo “Uma nova desordem mundial”( Scientific American, Edição especial, ano 18, no. ): “Um ambiente informacional desorganizado requer que cada pessoa perceba como ela também pode agir como um vetor nas guerras de informação, e desenvolva um conjunto de habilidades para lidar com a comunicação tanto on-line quanto off-line. (…) (portanto,) seria melhor ensinar os usuários on-line a desenvolverem ‘músculos’ cognitivos na forma de ceticismo emocional, e treiná-los a resistir ao ataque de um conteúdo concebido para ativar medos e preconceitos básicos.”
Não que essa seja uma tarefa simples, mas é um processo longo e contínuo que deve começar pelos pressupostos básicos de pesquisa, de construção de hipóteses, de formação de um repertório variado para que as crianças e jovens possam conhecer mais para selecionar as informações relevantes em meio a essa confusão informacional. Essa continua a ser a grande tarefa da escola, mas também é a de todos nós que vivemos nessa Era da Pós-Verdade. Precisamos evitar que os jovens que crescem em meio às Fake News tenham dificuldade em reconhecer o que é mentira, resistindo a acreditar nos fatos. Para combater a desinformação precisamos garantir que as crianças e jovens tenham direito à informação, a duvidar dela e a checá-la, elaborando critérios sólidos para uma construção de uma realidade mais justa e sustentável.
Imagem: Ilustração de capa do livro Como não ser enganado pelas fake news.
Notas
- 1Fontes: Forbes e Olhar Digital.
- 2Fonte: Eco Futuro.
- 3“Formar leitores para o século 21”. Folha de São Paulo.
- 4Fonte: Base Nacional Comum Curricular.
- 5Scientific American Brasil.
- 6Folha de São Paulo.