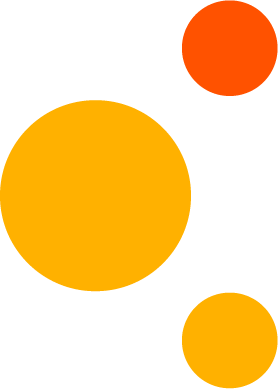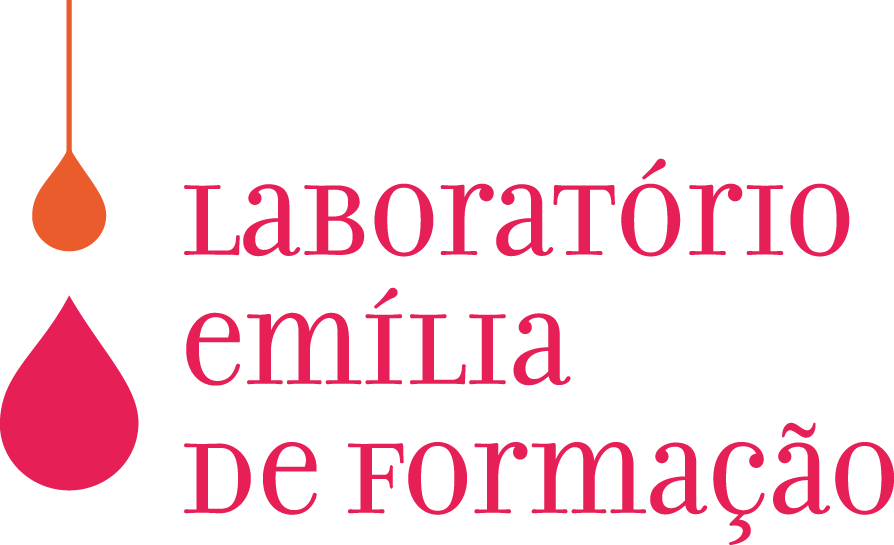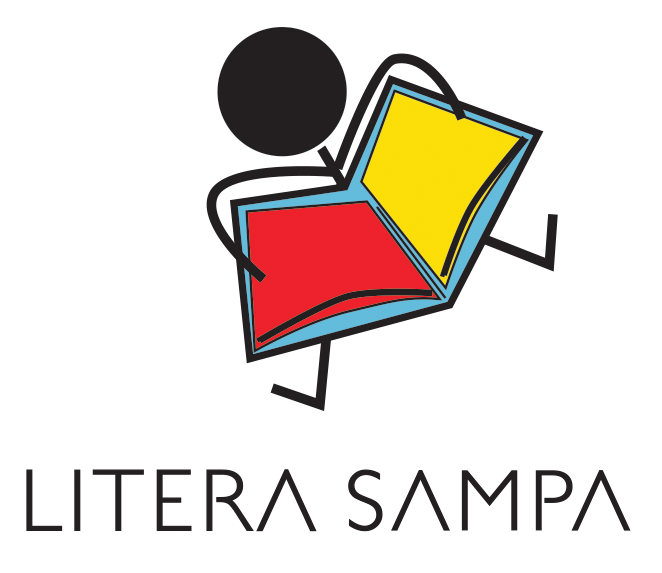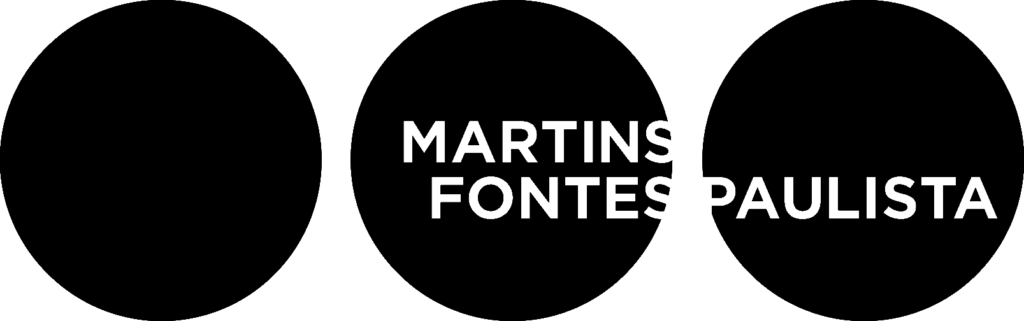Tenho ouvido com toda atenção os puxões de orelhas levados de amigos escritores e de universidades questionando o fato de denominar literatura indígena aos escritos literários de autores nativos. Nossos interlocutores alegam que o que se escreve, sendo literatura, literatura é. Não precisaria, pois, colocar o qualificativo para indicar a origem de quem escreve. O texto literário falaria por si só.1Nesta coluna Daniel Munduruku debate as questões apontadas pelo comentário de Marina Kahn, antropóloga indigenista, em relação a “Escrita indígena: registro, oralidade, literatura”, publicado na EMÍLIA.
Há também a alegação de que isso cria certo segregacionismo reforçando a separação entre os membros de uma mesma sociedade, no caso, brasileira. Dizer que uma literatura é indígena ou negra; branca ou judia; oriental ou ocidental levaria as pessoas a criar uma reserva com relação à qualidade do que se produz. Seria algo como falar do “politicamente correto” criando preconceitos e reforçando estereótipos.
A finalidade deste texto não é rebater essas críticas ou reflexões realizadas por amigos ou simpatizantes, mas colocar um pouco de lenha na fogueira, apimentar o tucupi.
Confesso que fico incomodado quando alguém me diz que eu deveria abandonar a expressão “indígena” na literatura que escrevo [se é que faço literatura mesmo]. Isso me lembra uma questão muito comum que vez ou outra volta ao cenário. Há pessoas que dizem que sou “um índio que deu certo”. Outras pensam, mas não dizem. Isso me faz pensar muito no nível de compreensão que a sociedade brasileira tem sobre si mesma e sobre o papel dos indígenas na formação de sua identidade. E quando ouço uma “bomba” dessas, sempre acho que o Brasil ainda não chegou lá… e, pior, acho que não vai chegar nunca!
Sem entrar nos detalhes já que não sou especialista na matéria, entendo que a história da literatura brasileira passou por diferentes fases e quase todas elas receberam denominações que ora apresentavam especificações regionais e rurais, ora urbanas. Elas sempre foram formas de fixar determinados conceitos ou apresentar características sui generis para um movimento que queria se distanciar do anterior. Surgiam expoentes que aceitavam escrever submetendo suas criações a um modelo x ou y. A cultura literária acabava por aceitar isso como uma forma de mudança necessária para o crescimento da própria literatura nacional. Ainda hoje é assim. E, além disso, não se pode esquecer que a própria literatura foi usada como instrumento de reverberação de ideias. Ideologias utilizavam os estilos literários para passar suas crenças numa ou noutra sociedade sonhada.
Lembro aqui, ainda, que o indigenismo de José de Alencar foi uma “encomenda” do imperador dom Pedro II, que desejava criar uma identidade para um país que era dependente de Portugal e do qual queria se distanciar. A “leitura” que Alencar propôs encontrou na cultura indígena um componente fundante para essa identidade. Daí as pérolas literárias por ele criadas e que embalaram o ser brasileiro por anos a fio. Tais pérolas só foram questionadas pelo antropofagismo de Oswald de Andrade – e de um grupo de literatos e artistas – que propunha uma leitura múltipla dessa mesma identidade nacional. Macunaíma é um bom exemplo [na mitologia indígena de Roraima, Macunaima – sem acento – é um ente legislador que nada tem a ver com a versão literária de Mario de Andrade].
A antropologia também teve sua parcela de contribuição nessa releitura identitária. Foi o árduo trabalho do Marechal Cândido Mariano Rondon – de descendência bororo – que fez o país conhecer uma parte de seu território ainda desconhecida. Ele abriu a “clareira” para que a literatura tivesse novos horizontes para pensar o passado nacional. E aqui cabe uma pergunta: será que a literatura soube lidar com esta novidade de forma satisfatória? A resposta fica a critério de quem está lendo este artigo, mas se imaginarmos o lamentável equívoco que ainda hoje se repete em nossas escolas, a resposta não poderia ser positiva. Mesmo lembrando os heróicos trabalhos dos pesquisadores brasileiros – ou indigenistas do porte dos irmãos Villas-Bôas – em apresentar à sociedade a realidade dos povos indígenas, a literatura preferiu ficar em seu lugar comum reproduzindo estereótipos e conceitos ultrapassados.
Ainda que lembremos de Darcy Ribeiro – brasileiro marrento e idealista – que em todas suas áreas de atuação [universidade, política, educação, literatura] sempre alertou a sociedade nacional para a leviandade que se estava cometendo contra os indígenas, mesmo assim a literatura tem ignorado essas contribuições e alimentado uma visão folclórica e antiga sobre nossa gente.
A literatura que os autores indígenas estão criando é nova sim. Traz um olhar sobre suas próprias sociedades e culturas. Traz um viés particular – embora, às vezes, contaminado pela cultura branca, europeia – capaz de confirmar e reafirmar suas identidades distanciando-os do conceito cínico do “ser brasileiro com muito orgulho e com muito amor”, cantado nos estádios de futebol. É uma literatura autenticamente brasileira – no sentido do pertencimento ao lugar onde se vive e no qual se enterra seus mortos. É uma literatura – na falta de um termo melhor – que está além da própria literatura, já que não faz distinção dos jeitos como ela é produzida.
Nossos escritos são literaturas, sim. E são indígenas, sim. Não há motivo para negar isso e menos ainda para partilhar com os escritores não-indígenas o merecimento que nosso esforço tem conseguido em tão pouco tempo. Dizer que o que escrevemos é “apenas” literatura brasileira, é dividir com todos aqueles que escreveram, escrevem e escreverão coisas medíocres a respeito de nossa gente, um status que não foi construído por eles. Nossa literatura é indígena para que não se venha repetir que “somos os índios que deram certo”.


Ilustrações de Fernando Vilela para o livro Meu lugar no mundo (Ática)
Nota
- 1Nesta coluna Daniel Munduruku debate as questões apontadas pelo comentário de Marina Kahn, antropóloga indigenista, em relação a “Escrita indígena: registro, oralidade, literatura”, publicado na EMÍLIA.