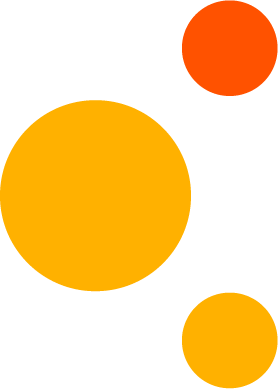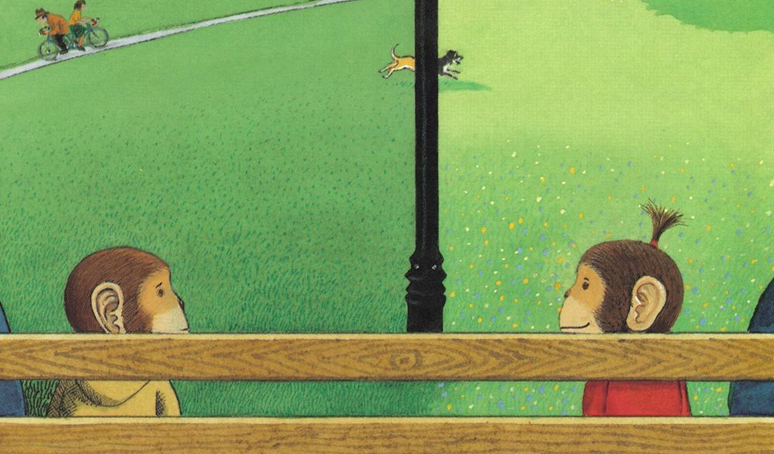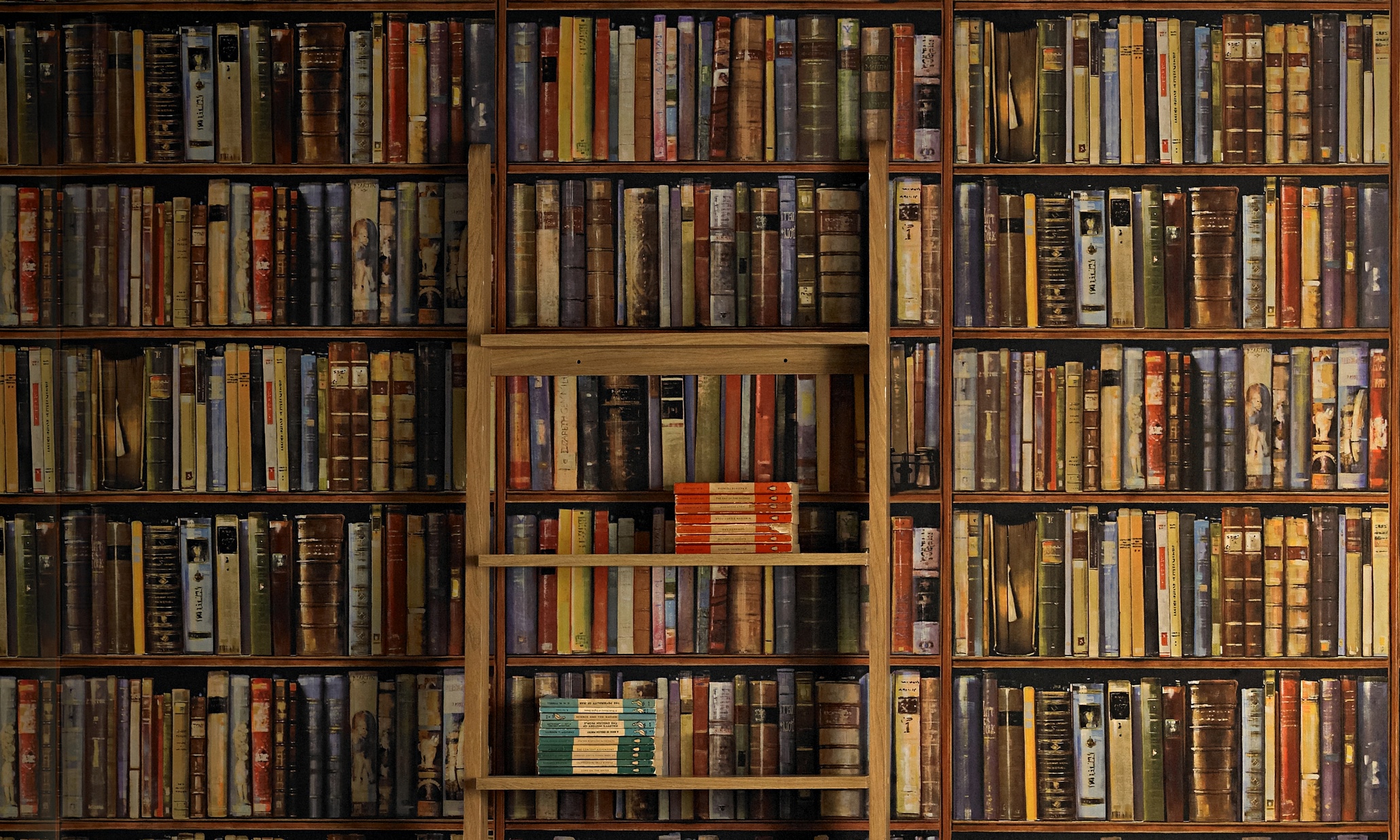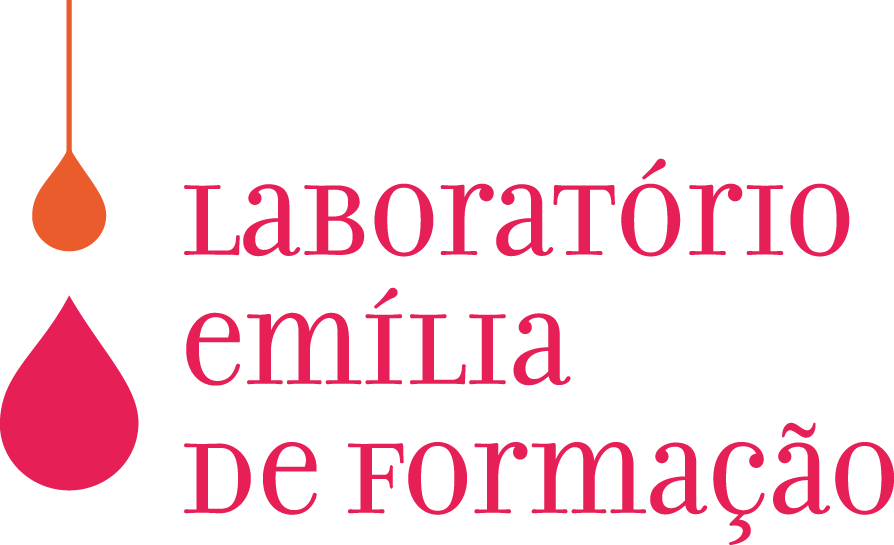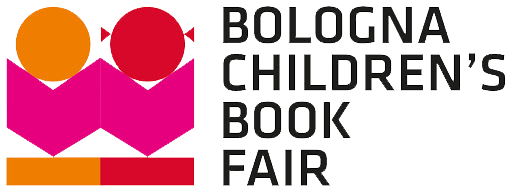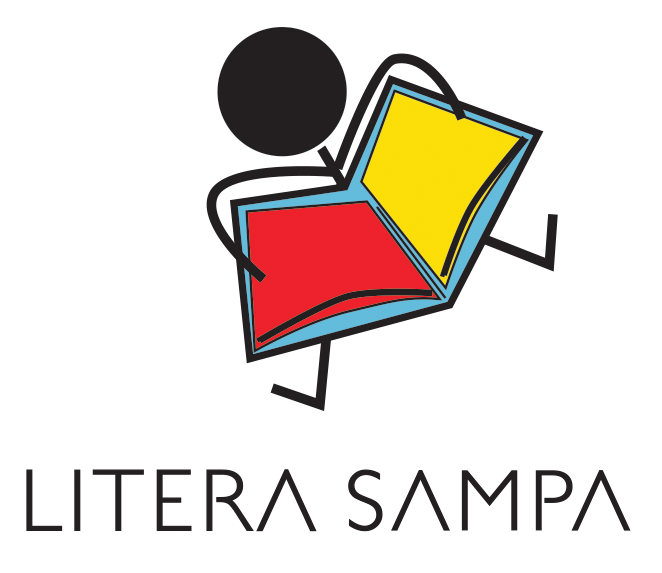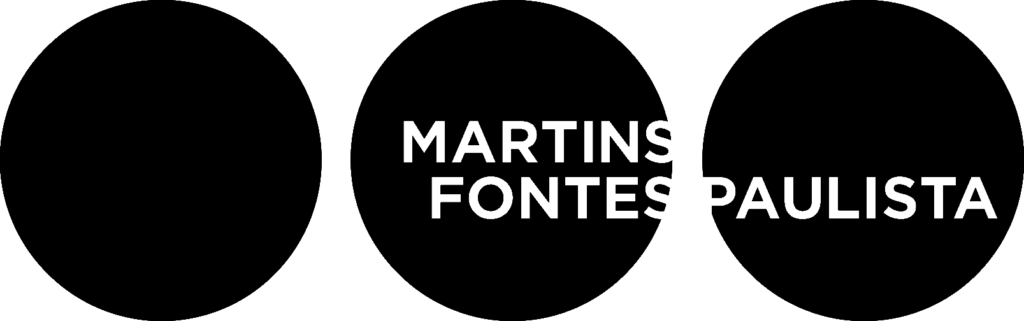Os desafios e aprendizados de um programa que atuou em 69 cidades
Quando cheguei em casa era 22,30. Liguei o radio. Tomei banho. Esquentei comida. Li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem.” O trecho é de Quarto de Despejo, livro de Carolina Maria de Jesus. O título é uma metáfora. Para a autora mineira, enquanto o centro da cidade é a sala de visitas, a favela é o quarto de despejo: “Estou no quarto de despejo, e o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo.” Em registros diários, a autora relata sua experiência de coletora de materiais recicláveis, de moradora de favela, de mãe, de mulher e também de leitora: “Ontem eu li aquela fábula da rã e a vaca. Tenho a impressão que sou rã. Queria crescer até ficar do tamanho da vaca” 1Nota do livro: Segundo a fábula, a rã avista um boi e inveja seu grande tamanho; começa a inchar a pele rugosa enquanto pergunta a seus filhos se já está maior do que o boi. De tanto se esforçar, a rã acaba morrendo..
A história de Carolina Maria de Jesus faz pensar sobre a literatura como forma de arte que acessa a subjetividade humana, como meio de reflexão sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. Em um cotidiano duro, em que a cor amarela da fome se concretiza, ler e escrever representam momentos importantes de respiro. Não porque a leitura permite “que se viaje sem sair do lugar” ou “uma fuga da realidade”, conforme slogans de algumas campanhas pela leitura, mas sim porque, a partir dos livros, Carolina, e tantas outras pessoas em cotidianos diversos, podem conhecer e compreender outras histórias, ressignificando e quiçá, escrevendo as suas. Para que isso seja possível é preciso que as diferentes narrativas ganhem ampla circulação social, que cheguem a todos. No Brasil, a nossa histórica desigualdade social não favorece esse acesso. E tomando essa realidade como ponto de partida, este artigo busca trazer à luz uma experiência de mobilização para a democratização da leitura realizada no âmbito de um programa educacional realizado em parceria entre um Instituto empresarial, uma OSCIP e Secretarias Municipais de Educação.
“Mobilizar é o ato de convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, compartilhando interpretações e sentido”(TORO). Esta perspectiva, defendida por Bernardo Toro e Nísia Werneck, embasa o relato desta experiência de mobilização para democratização da leitura, circunscrita em um programa de formação 2Programa PVE – Parceria pela Valorização da Educação, promovido pelo Instituto Votorantim em que a Comunidade Educativa CEDAC é umas das consultorias técnicas. realizado com 69 Secretarias Municipais de Educação3O Programa PVE atua em 2018 com 104 municípios, porém a experiência retrata as reflexões da consultoria que atuou com 69 deles.. A proposta é que, enquanto técnicos das Secretarias e gestores escolares aprimoram sua prática profissional em encontros formativos, a sociedade seja mobilizada para compreender mais sobre a educação pública e participar para o aprimoramento da sua qualidade. Ao longo de 10 anos desse Programa, muitas temáticas foram desenvolvidas na mobilização pela educação e em 2018 o foco foi “Leitura para todos”.
A leitura literária como direito
Por que mobilizar pela leitura? Em primeiro lugar, consideramos que a mobilização social tem poder de convocatória quando se dá em torno de direitos e necessidades. Entre alguns motes de processos de mobilização, encontramos doação de órgãos, combate à dengue, moradia, abertura de creches ou de vagas em escolas, fim da violência contra a mulher ou contra homossexuais. Mobiliza-se para modificar uma situação, para garantir direitos e a leitura é entendida aqui como um direito de todos. Bartolomeu Campos de Queirós, no Manifesto do Movimento por um Brasil Literário contribui para essa perspectiva considerando que “A leitura literária é um direito de todos e que ainda não está escrito” e compreendendo que:
Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos que fundam a infância. Tais substâncias são também pertinentes à construção literária. Daí, a literatura ser próxima da criança. Possibilitar aos mais jovens acesso ao texto literário é garantir a presença de tais elementos – que inauguram a vida – como essenciais para o seu crescimento. Nesse sentido é indispensável a presença da literatura em todos os espaços por onde circula a infância. Todas as atividades que têm a literatura como objeto central serão promovidas para fazer do País uma sociedade leitora. O apoio de todos que assim compreendem a função literária, a proposição é indispensável. Se é um projeto literário é também uma ação política por sonhar um País mais digno.
A democratização da leitura está relacionada, então, ao direito à arte enquanto expressão da subjetividade humana. Uma mobilização para a democratização da leitura passa necessariamente pelas condições de acesso aos livros, que historicamente foram marcadas pelas dinâmicas de poder na sociedade. Durante a Idade Média era garantido basicamente à elite e aos religiosos, não só pelo valor a ser investido em sua aquisição, mas também porque eram estas as pessoas escolarizadas, que os podiam ler – como é possível identificar no famoso livro que virou filme O nome da rosa, de Umberto Eco (adaptação ao cinema dirigida por Jean-Jacques Annaud). Desta forma, o conhecimento e o poder relacionado à leitura estavam circunscritos a uma minoria. Este cenário progrediu lentamente ao longo dos tempos, até que a democratização da escola pública tornou-se uma aspiração e com a escola, foi crescendo também o acesso à leitura, aos livros e às bibliotecas.
No Brasil, em 1985 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático, com objetivo de distribuir gratuitamente livros didáticos a alunos de escolas públicas em todo o país, entendendo o livro didático como um dos mais importantes suportes pedagógicos para os professores. A partir de 1998, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) tornou-se iniciativa fundamental de acesso a diferentes acervos inicialmente para o ensino fundamental e posteriormente, a todas as etapas da educação básica. Destacamos aqui em 2001 a ação Literatura em Minha Casa, na qual os acervos eram entregues diretamente aos alunos que tinham possibilidade de compartilhar com a família e efetuar trocas entre colegas, constituindo um importante movimento de mobilização para democratização da leitura. O PNBE foi sendo ampliado e modificado ao longo de suas edições, mas continua sendo uma importante política pública de acesso a acervos diversos e de qualidade.
Contudo, este tema está longe de ser resolvido pois grande parte da população ainda apresenta dificuldades grandes em leitura. Segundo dados de 2018 do INAF – Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, 30% dos brasileiros entre 15 e 64 anos compõem o grupo de analfabetos funcionais. Este grupo é formado por duas categorias: analfabetos que não conseguem ler palavras ou frases e analfabetos rudimentares, casos em que conseguem encontrar informações explícitas em textos simples, mas não fazer inferências a partir do que leem. O grupo dos funcionalmente alfabetizados é dividido nas categorias elementar, intermediário e proficiente. Quem alcança o alfabetismo elementar consegue calcular valor de prestações sem juros e interpretar tabelas simples, por exemplo, mas não interpreta figuras de linguagem como metáforas. O nível intermediário, por sua vez, permite que a pessoa elabore síntese de textos diversos (jornalísticos e científicos) e também saiba trabalhar com porcentagens. Já o proficiente é a única categoria apta a opinar sobre o estilo do autor ao ler algum texto – é o nível mais alto da escala. Nesse grupo, o dado também é alarmante, pois somente um em cada dez brasileiros podem ser considerados proficientes e aptos a analisar um texto lido4Fonte: Todos pela Educação..
A falta de acesso à literatura causa a falta de oportunidade de entrar em contato com todos os elementos citados por Bartolomeu Campos de Queirós, ou seja, a oportunidade de ser atravessado pela subjetividade expressa na arte do texto, que pode ampliar, fortalecer ou modificar a experiência humana, seja esta pessoal ou coletiva. O direito de acessar a leitura literária está longe de ser garantido e um exemplo que demonstra esta fragilidade é a recente alteração no Plano Nacional do Livro e da Leitura, com a extinção do Conselho Consultivo e consequente diminuição dos representantes da sociedade civil no Conselho Diretivo, implicando em uma menor participação da sociedade nas decisões dessa importante política nacional de acesso à literatura e aos livros.
Como mobilizamos?
Na perspectiva de mobilização da experiência destacada aqui, desejamos que cada cidadão possa participar da melhoria da educação dentro do papel que ocupa na sociedade. Isso implica jogar luz nas possibilidades de apoio para cada setor. Suponha que você, leitor, saia agora na rua e pergunte a dez pessoas se elas acham que a educação é importante para o desenvolvimento social. Quantas acha que diriam que sim? A maioria, imaginamos. E se fosse adiante e perguntasse: Se você pudesse colaborar para que um estudante pudesse aprender mais, você faria isso? A maior parte das pessoas diria que sim, não é mesmo? Contudo, por que tão poucas pessoas manifestam essa vontade em ações? Acreditamos que muitas delas não sabem que podem ser úteis e/ou não sabem que podem apoiar. Assim, nos dedicamos a promover ações em que esta necessidade se torna explícita e que diante de oportunidades, as pessoas possam dar seu apoio efetivo. Promover a leitura nos diversos espaços públicos, é algo muito possível. Familiares podem ler para as crianças em casa e valorizar quando elas leem. Comerciantes e empresários podem abrir espaço para um canto de livros para seus funcionários, ou mesmo para seu público-alvo. Com facilidade, podem também promover campanhas de arrecadação de livros para bibliotecas públicas, escolares ou comunitárias. Estas são só algumas das diversas possibilidades que apresentaremos adiante.
A mobilização social, ainda segundo Bernardo Toro, não é uma oportunidade de conseguir pessoas para ajudar a viabilizar nossos sonhos, mas de congregar pessoas que se dispõem a contribuir para construirmos juntos um sonho, que passa a ser de todos. Portanto, ainda segundo este autor, para iniciar uma mobilização é essencial contar com os reeditores, que são pessoas que, por seu papel social, ocupação ou trabalho, tem a capacidade de se comunicar com seu público e readequar mensagens, de modo a criar sentido para a causa em questão. Sendo assim, buscamos identificar nos municípios participantes grupos já compostos por pessoas de diferentes segmentos da sociedade (familiares, estudantes, educadores, ONGs, profissionais de áreas como cultura e saúde, etc), mas na maioria dos casos, não foram identificados e assim favorecemos a composição deste grupo.
Tínhamos então o desafio de apresentar a este grupo o desafio da mobilização pela leitura já que esta era uma demanda estimulada por atores externos (secretaria de educação, instituto empresarial e OSCIP). Levamos estratégias para aproximá-los da temática. Primeiro investigamos com o grupo qual a relação que tinham com a leitura. Observa-se nessas ocasiões uma diversidade grande de experiências leitoras em um continuum que vai desde a relação nula com o livro até a idealização da leitura como salvadora e transformadora de vidas. Os relatos da infância costumam vir carregados de muita emoção e esta experiência é mobilizadora, pois o grupo compreende que todas as pessoas, e principalmente todas as crianças, deveriam poder constituir tais memórias. Já os indicadores têm o papel de demonstrar que este acesso tem sido negado a uma boa parte da população. Este choque de realidade abre no centro do grupo, o imenso buraco da falta, sem o qual não poderia haver uma mobilização.
Como o Programa contava com as Secretaria Municipais de Educação como promotoras, uma questão sempre marcante foi a presença dos educadores, tanto nas reuniões dos grupos de mobilização para discussão do tema e planejamento das ações, como também na realização das atividades. Algumas ações foram realizadas dentro da escola e mesmo quando eram em outros espaços, na maioria das vezes contávamos com a participação de educadores e alunos, de diferentes formas.
Outro elemento presente no início da mobilização é o mapeamento das ações de leitura que já estavam presentes no município. Foi importante compreender qual o estado da arte em cada localidade, tanto para pensar o que mais poderia ser feito quanto para convidar os atores envolvidos nessa iniciativa para se juntarem ao grupo. Encontramos diversos cenários: alguns lugares não tinham praticamente ações de leitura para além das promovidas pela escola, em outros havia muitas ações, porém sem diálogo entre os diferentes grupos. Foi muito frequente a observação sobre a necessidade de revitalização das bibliotecas municipais, até mais do que as falas sobre as bibliotecas escolares, o que nos provoca a inferir que mesmo sem usar5Apenas 12% das pessoas usam bibliotecas públicas para ler, segundo a Pesquisa Retratos da Leitura – 4ª edição (2016), Instituto Pró-Livro. Disponível no link. Acesso em 27 de nov. de 2019., a população em geral atribui valor a este espaço, reconhecendo sua potencialidade. A partir deste diagnóstico seguíamos para o planejamento das intervenções. Selecionamos aqui três experiências, entre muitas outras valiosas, para relatar brevemente.
Na cidade de Ibirama, Vale do Itajaí, em Santa Catarina (17 447 habitantes), o grupo de mobilização observou o potencial que representava a grande presença das mães de estudantes nas facções de costura, setor de importante valor econômico local. Ao invés de ficar buscando a vinda dessas mães na escola ou em outros espaços em que pudessem tratar do tema, resolveram ir até onde elas já estavam. Conversaram com os responsáveis por esses estabelecimentos e conseguiram a cessão de cerca de 20 minutos para que pudessem fazer leituras para as funcionárias, compreendendo que muitas delas não tinham tido essa experiência e que, portanto, poderiam ter dificuldades de proporcioná-las a seus filhos, netos, sobrinhos e etc.
Em Angatuba, SP (24.161 habitantes), foi montado um espaço móvel de leitura, a “Kombiteca”. O grupo de mobilização fez a arrecadação de livros e conseguiu apoio para a revitalização do automóvel doado. Também realizou ações na cidade como a Caminhada Literária e o Sarau Literário com intervenção na feira livre. Nesta última ação, o tema do Sarau era o julgamento de Capitu e uma moradora relatou: “Pobre Capitu… condenada pelo machismo… Valeu a pena deixar a feira para depois e dar uma passadinha por aqui. Os alunos foram ótimos.”
Já na cidade de Juiz de Fora (489.801 habitantes), em Minas Gerais, contamos com um grupo de mobilização composto por pessoas de diferentes segmentos da sociedade: a responsável pela Biblioteca Pública, professores de sala de leitura, contadores de histórias e técnicos da saúde. Essa diversidade contribuiu com a potência das ações! Uma Unidade Básica de Saúde organizou um cantinho de leitura para os pacientes, que poderiam acessar os livros enquanto aguardavam atendimento. Em seguida, outras duas unidades de saúde conseguiram organizar espaços de leitura que foram muito bem avaliados pela comunidade, comprovando a ideia de quando o acesso é garantido, o interesse se apresenta. Assim como os exemplos citados, grupos em cada cidade realizaram ações de leitura em diferentes formatos e no final do ano foram convidados a vivenciarem uma importante fase presente em diversas metodologias de mobilização: a celebração. Embora também ocorra ao longo do processo, é no final da sequência de ações planejadas pelo grupo que são celebrados e reconhecidos os impactos do trabalho. O próprio evento final pode ser uma ação de mobilização com a comunidade, se organizado de forma participativa pode ser bem representativo para a sociedade e para os membros do grupo de mobilização.
Resultados e aprendizagens
Considerando os 69 municípios em que tivemos atuação direta, 164.145 pessoas foram impactadas diretamente pelas 246 ações de mobilização realizadas. Em cada município, contribuímos para a formação de lideranças sociais pela educação que, acreditamos, puderam também ampliar o seu contato com a leitura literária e desenvolver seu comportamento leitor.
Além desses resultados locais, a mobilização para a democratização da leitura construiu um importante legado de estratégias e atividades que podem favorecer esse movimento em diferentes localidades e contextos:
- Análise e discussão de indicadores educacionais e sociais relacionados ao tema
- Ações de mediação de leitura em diferentes espaços (escolas, bibliotecas, praças, ruas, empresas)
- Constituição/Revitalização de espaços de leitura
- Campanhas de doação de livros para ampliação de acervos
Foi fundamental a abertura dos promotores deste movimento para diferentes formatos de ações, a fim de possibilitar o envolvimento da população com o tema. Por exemplo, sabemos que em uma campanha de doação de livros é muito comum que uma parte das doações não representem os livros com maior qualidade literária possível. No entanto, quando uma pessoa pega um livro de sua casa e acredita que com ele pode contribuir para a revitalização da biblioteca pública de sua cidade, é preciso incentivar esse movimento. Por outro lado, procuramos nessas iniciativas deixar claro que os livros recebidos seriam selecionados. Da mesma forma, ocorrem casos em que os mediadores de leitura são iniciantes nesta atividade, como no caso de jovens por exemplo. Assim, contamos com um misto de incentivo e apoio para que todos pudessem compreender que poderiam sim participar deste grande movimento, dentro de suas condições. Os formadores do Programa representavam esse apoio, trazendo referências de qualidade em relação aos espaços, acervo e mediação.
Ao mobilizar para a democratização da leitura, mobilizamos pessoas para um objetivo comum. Esta causa nos permitiu chegar mais perto das pessoas e de suas histórias, sentimentos, opiniões. A receptividade foi maior do que a esperada, seja no centro, na área rural, no morro, na periferia. A vontade de apoiar se concretizou de diferentes formas, na doação do livro, no esforço para ler em uma praça, na confecção de um mural na rodoviária, na transformação de uma sala de estoque em biblioteca, na pintura de uma geladoteca, no coar de um café para uma reunião…
Nos parece que o direito à leitura, embora não seja amplamente declarado nem amplamente garantido, faz muito sentido para a maior parte das pessoas. Como fazia para Carolina Maria de Jesus. E o que fica de dúvida no final dessa história que viemos contar é quantas histórias surgiram desta e estão por aí, em cada um desses 69 cantos de Brasil.
*
A experiência que citamos aqui e os resultados colhidos nos indicam que o direito à leitura pode não ser uma pauta comum das mobilizações sociais, mas é reconhecido e faz muito sentido para a maior parte das pessoas. Como fazia para Carolina Maria de Jesus. Há muita história para ser contada e recontada nesses 69 cantos de Brasil que se engajaram na busca por esse direito.

Imagem: Ilustração de Tereza Meirelles.
Referências Bibliográficas
AÇÃO EDUCATIVA; INSTITUTO PAULO MONTENEGRO. Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf) Brasil 2018: resultados preliminares. São Paulo, 2018. Disponível no link. Acesso em 14 nov. 2019.
Carta capital. O que de fato mudou no PNLL com o fim do seu conselho consultivo. Disponível no link.
O nome da rosa. Direção de Jean-Jacques Annaud. Romance de Umberto Eco. Roteiro de Andrew Birkin, Gérard Brach, Howard Franklin e Alain Godard. Alemanha; Itália; França: Constantin Film; Cristaldifilm; Les Films Ariane, 1987. 1 filme (130 min.).
QUEIRÓS, Bartolomeu Campos de. Manifesto por um Brasil literário: Bartolomeu Campos de Queirós. [Paraty: s.n.], 2009.
TORO, Bernardo; WERNECK, Nísia Maria Duarte. Mobilização social: um modo de construir a democracia e a participação. São Paulo: Autentica.
Notas
- 1Nota do livro: Segundo a fábula, a rã avista um boi e inveja seu grande tamanho; começa a inchar a pele rugosa enquanto pergunta a seus filhos se já está maior do que o boi. De tanto se esforçar, a rã acaba morrendo.
- 2Programa PVE – Parceria pela Valorização da Educação, promovido pelo Instituto Votorantim em que a Comunidade Educativa CEDAC é umas das consultorias técnicas.
- 3O Programa PVE atua em 2018 com 104 municípios, porém a experiência retrata as reflexões da consultoria que atuou com 69 deles.
- 4Fonte: Todos pela Educação.
- 5Apenas 12% das pessoas usam bibliotecas públicas para ler, segundo a Pesquisa Retratos da Leitura – 4ª edição (2016), Instituto Pró-Livro. Disponível no link. Acesso em 27 de nov. de 2019.