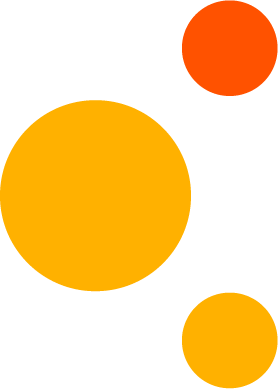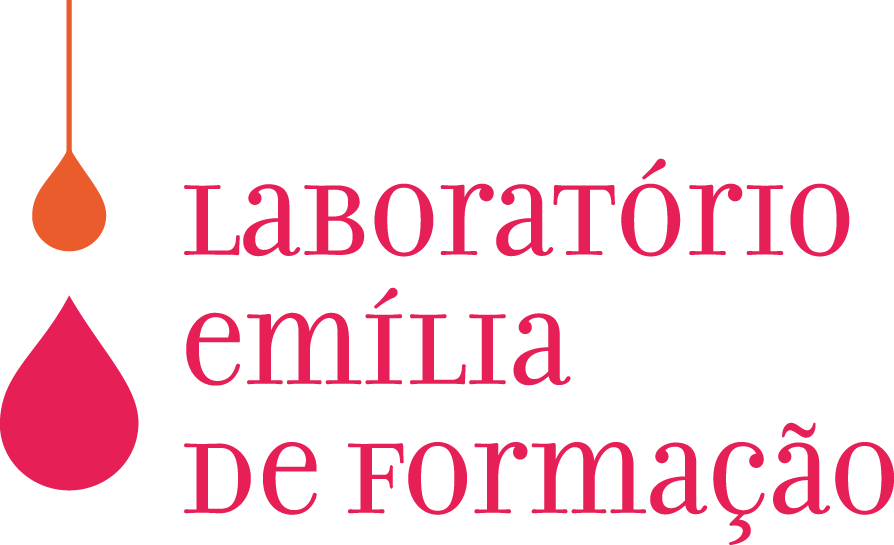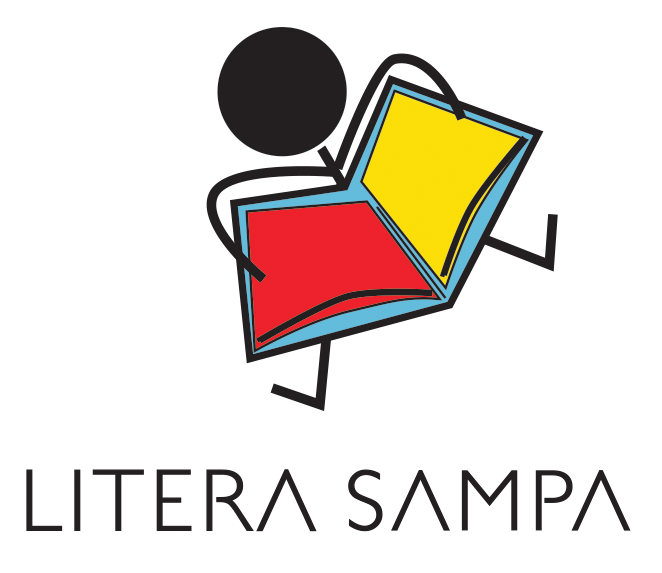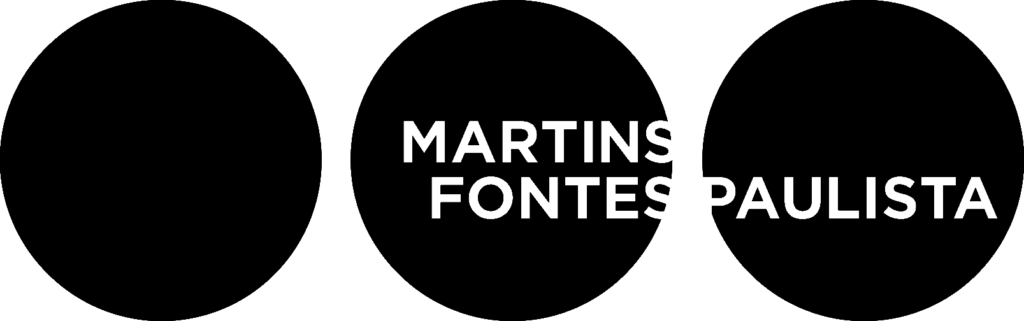Podem os brancos teorizar sobre racismo? Os homens sobre mulheres; burgueses sobre revolução; nacionalistas sobre imigrantes? A questão formulada pela filósofa indiana Gayatri Spivak é um desafio. Como desenrolar esse novelo? Porque, se usamos o critério de “categorias”, o apropriado seria optar pelo silêncio. Uma mudez forçada (também) pelo pudor, digo, a esta altura do jogo. É impossível ignorar o fato de que uma categoria responde a uma estrutura de pensamento e linguagem, portanto, a um discurso que determina nossa forma de ver e fazer. A linguagem atua como classificação ordenadora de quase tudo o que conhecemos e podemos nomear. Então, para ir direto ao ponto, poderíamos dizer, sem erro de nos equivocarmos, que tal como vivemos presos em um tempo e espaço, somos prisioneiros de uma língua em particular. Impossível sair do chão. Impossível resistir a essa linguagem que nos agarra e aperta. Porque uma língua, essa forma de construção, suas palavras estão ligadas à maneira como classificamos, ordenamos e lemos o mundo.
Desta forma, o diálogo fluido e verdadeiro que gosto de imaginar requer um exercício de desconstrução monumental. Talvez a desconstrução seja o único caminho. Livrar-se de quilos de tecidos, como aquelas camadas de roupas com que se vestiam as mulheres do século XIX, para desvestir palavras e ideias, porque a empatia não é suficiente. Não adianta, amiga, nem com um sorriso ou aperto de mão. Posso dizer “sou negra” (aliás, já disse), e se existe reencarnação, peço ao universo ou às energias que o dominam, que me faça negra, mas essa é outra história – o importante é reconhecer que ainda que diga isso, é-me impossível salvar a questão de identidade. Não posso ser algo que não sou. Por outro lado, posso falar de meu respeito pela diversidade, pelas culturas, de minha aproximação com diferentes cosmovisões, da curiosidade natural que surge em uma conversa e põe à prova minhas convicções e, talvez, o intercâmbio seja benéfico para ambas as partes, mas não posso teorizar sobre racismo nem entrar nessa caverna de preconceitos ou traçar o caminho que percorreram tantas irmãs, pois essa experiência não pertence ao meu imaginário. Nasci da cor do privilégio, essa que me ajuda a passar sem problemas pelos controles nos aeroportos, essa que indica que não sou potencialmente perigosa para a convivência pública, assim, “passe você, senhora”, sem necessidade de mostrar minha carteira de identidade nem ter que endossar quem sou e para onde vou. Minha leitura de mundo se torna amável quando se trata de espaços coletivos por essa simples (e involuntária) representação errônea da realidade que me aparta de uma leitura completa, complexa, com as nuances necessárias para compreender o que sente uma mulher negra obrigada a controles de identidade diários, suspeita por nascer da cor que nasceu. Como falar em seu nome? A distância que nos separa parece um muro de concreto com cerca elétrica. A qualquer palavra ou movimento, uma violenta descarga elétrica.
É difícil explicar o mundo por categorias ou identidades, ainda que o mundo insista em fazê-lo e nos encontremos diante da impossibilidade de lê-lo amplamente. Em vez disso, avançamos entre sistemas que definem, oferecem âmbito teórico e de referência, mas nos obrigam que nos reconheçamos por oposição, dizer, por exemplo, sou mulher porque não sou homem, latina porque não sou europeia, branca porque não sou negra – e assim a lista assinala tanto o que deixo de ser como o que sou. A distância aumenta e nos separa de todo aquele que busca reunir, tornando-se espinhoso “falar em nome de”. Isto é evidente, em termos de gênero, nas discussões sobre aborto que têm acontecido ultimamente nos parlamentos latinos. Trata-se majoritariamente de homens falando sobre mulheres, e aqui vale fazer um breve parêntese para perguntar por que o corpo da mulher é um corpo político? Por que os direitos reprodutivos e esse argumento “a favor da vida” que, entre outras coisas, supõe defender todos menos o direito de a mulher a decidir sobre seu corpo, são usados como condição sine qua non? Tirando o fato de ser a favor ou contra, de ser de esquerda ou de direita, as razões destes ilustres senhores denotam um excesso de zelo político e nulo conhecimento do corpo da mulher em particular, e do feminino em geral. Então, como falam de algo que desconhecem? A reivindicação surge espontânea, que tipo de superioridade os incentiva a se entusiasmarem com o direito de teorizar? Pregar sem conhecimento deveria ser punido por lei, no entanto, acontece. Nossas sociedades tendem a perpetuar vícios e nossos parlamentares entram no tema com um senso absurdo de propriedade.
Então, quando a sociedade global entra em crise, como nestes anos, e a tecnologia (e a morbidade, também) nos oferece um olhar em primeiro plano da mesquinhez humana, – expulsando imigrantes, prendendo insistentemente os pobres, negros e mulheres por meio de regulamentações que legitimam e protegem uma somatória de preconceitos e categorias estagnadas – uma narrativa articulada a partir do “este, sim/este, não” nos faz perceber que estamos afundando, que a língua dos binarismos transborda um odor rançoso e nauseante em que é impossível enfrentar as imagens de horror (meninos e meninas em centros de detenção de fronteiras; mulheres e homens negros perseguidos e asfixiados; longas filas, de pessoas vestidas com macacões brancos até a cabeça, avançando na direção de um avião para serem deportadas) que diariamente nos confrontam com nossa cegueira social: a de acreditar que essa ordem, os pardos e os brancos, os homens e as mulheres, os aptos e os inúteis, efetivamente, serve para ordenar algo mais que não a seja nossa estupidez.
E chegando a esse ponto, entendemos a urgência do conceito de “desconstrução”. Seu sentido social, político, etimológico, sobretudo sua urgência cultural, porque toda mudança relevante é uma mudança do fazer, digerir, processar, traduzir e outros verbos que contem a ideia de que as palavras, de que nossa língua não é um instrumento banal e anódino, ainda que a utilizemos como se o fosse. Também não é sacrossanta e nem propriedade de intelectuais ou acadêmicos, que se comprazem em falar difícil e, ao final, o que se escuta é um vazio, tal uma abóbada. Tampouco vem de lugar nenhum. Um idioma se revela nas pessoas que o usam, cidadãos comuns que o carregam de sentido diariamente, aqui e agora, em uma época, um momento preciso. Para nós, cidadãos do mundo global, chegou a hora de amadurecer e entender como construímos realidade com aquelas palavras nas quais mal prestamos atenção e nem colocamos à prova, mas que determinam nossa comunicação diária. Se tivéssemos consciência de nossa língua, entenderíamos que, ao dizer “sou negra” ou “imigrante”, apelamos à humanidade por trás da categoria e que, como ser humano, podemos escolher de onde ler o mundo que habitamos. Nesse sentido, gosto de pensar que ressignificar é o mesmo que “desconstruir”, e como começamos a fazê-lo? Penso em muitas formas (algumas mais complexas do que outras), mas uma das que temos por perto, que é só esticar as mãos, são os livros.
Sem cair naquela idolatria que manifestam algumas conversas sobre leitura, que, diante de qualquer coisa sugerem ler como se fosse uma poção mágica para acabar com os males, colocando os livros em uma categoria banal, me parece que a literatura é um espaço propício para escutar o outro. Pois se é verdade que os livros atuam como porta de entrada à memória, lugares incômodos, espaços de reflexão, perguntas pertinentes e frequentes, aproximação com o passado e com o imaginário futuro, também oferecem a possibilidade de ser, enquanto viramos as páginas, negra, latina, hindu, órfã, refugiada, exiliada, guerrilheira, freira e outras infinidades de possibilidades, locais, culturas, que, como em uma caixa de pandora, contêm quase todos os temas que afligem uma vida, com a diferença de que um livro se lê como gostaríamos de ler nossas vidas, quer dizer, do princípio ao fim, entendendo isto e aquilo, relacionando situações, causas e efeitos, e isso implica outro número de elaborações que tentam o diálogo aberto, multicultural e racial. Os livros têm sido especialistas em imigrantes desde que começaram a ser escritos, é parte de seu caráter, e esses mundos que nos abrem permitem uma conversa com outra pessoa que não eu, a quem temo ou odeio, principalmente porque não a conheço. São, finalmente, vínculos para entrar nessa conversa sem interromper nem violentar, integrando a enorme quantidade de matizes presentes em nosso corpo social, garantindo esse tipo de conversa que traz tanta saúde à matéria e ao pensamento.
Tradução Lurdinha Martins